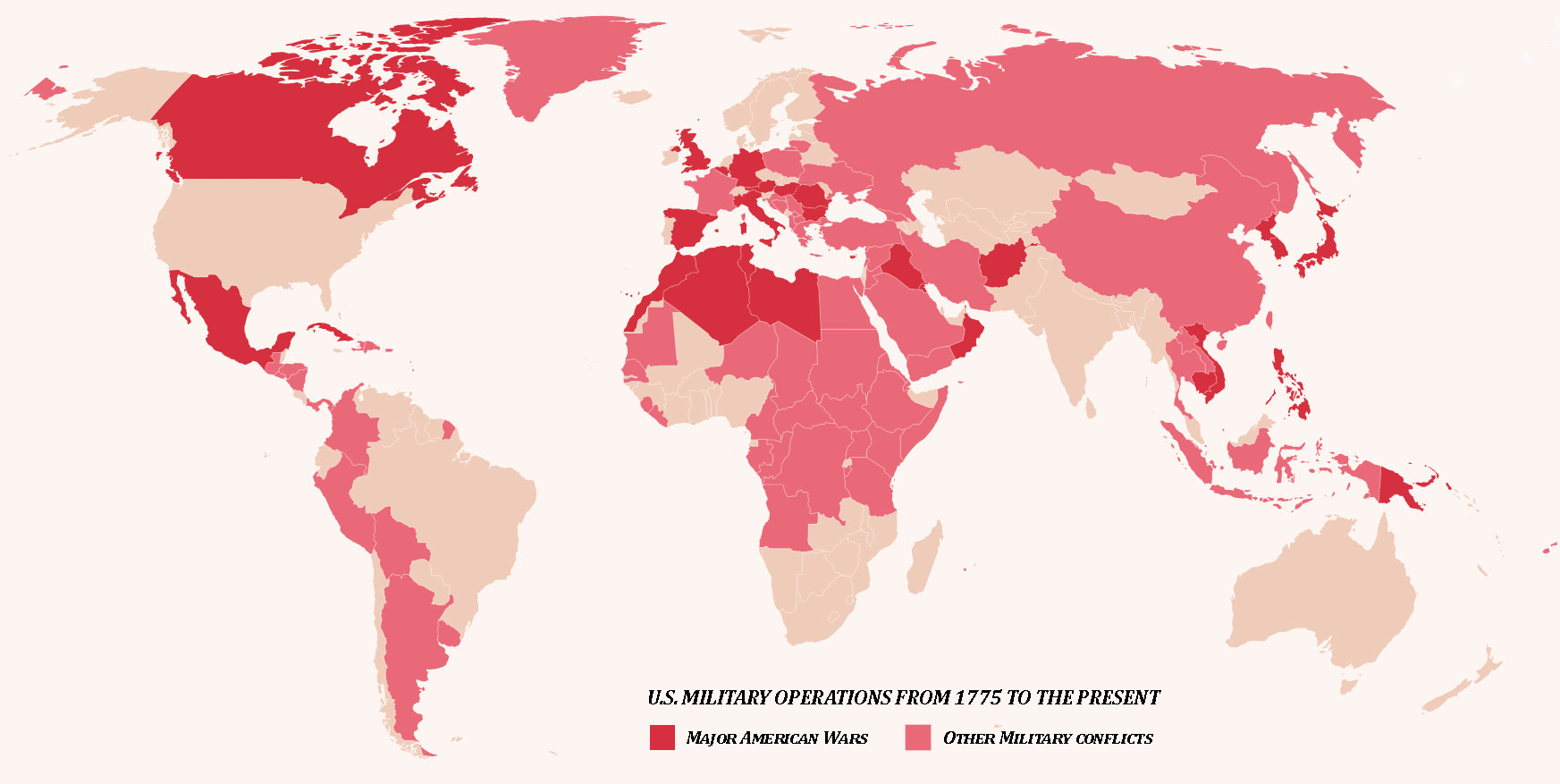Foi às três e meia da manhã, num hotel sem nome, que, abandonada pela minha colega de evento, me confrontei com a solidão. Uma sensação violenta, impossível de apagar, até eu aceitar que não estava preparada – não o tinha em mim – o killer instinct necessário para preencher lugares de poder.
I.
A minha história começa como incontáveis outras histórias da vida académica: num autocarro. Ainda sem fôlego de quase ter perdido o meu, estava nesse momento sentada num autocarro noturno para um hotel sem nome numa cidade do interior de Portugal, numa espécie de retiro para debatermos o futuro da juventude portuguesa. Estava numa delegação da associação que representava, com uma colega que eu também ainda mal conhecia, num autocarro silencioso, o que provavelmente destoava da experiência comum. Era o meu primeiro evento num círculo de influência mais sério, e tudo me dava a indicar, no alto dos meus dezanove anos, que aquilo significava algo sobre mim.
O associativismo sempre me pareceu um lugar de obscuridade. Acho que esta sensação é a partilhada por aqueles que se situam na proximidade, mas não fazem parte, dos círculos do associativismo jovem, mas que se dissipa quando neles se entra, o que cria uma clivagem por explicar entre quem representa e quem é representado. É inegável o misticismo que se cria em volta das associações de estudantes: a sua falta de transparência é, igualmente, o que as torna apelativas enquanto lugar de preparação para o tráfico de influências.
A sua hierarquia social não é perfeitamente clara: recebes um convite para integrar a tua associação de estudantes, provas o teu valor uma e outra vez ao longo do teu mandato, eventualmente podendo chegar à presidência da tua associação de estudantes e daí partir para outros voos na mesa dos graúdos, em federações e daí ainda para o real jogo partidário. Sem um código de conduta nítido, o jogo consiste em provar valor, captar atenções e equilibrares-te na corda bamba de te distinguires, mas não te tornares num alvo a abater demasiado cedo.
No alto dos meus dezanove anos, parecia-me ter entendido claramente o código social que me levava, agora, num autocarro para um evento na mesa já dos graúdos – na mesa dos estudantes que conversam com os atores políticos e lhes «exigem» atuação. Poucos conseguiam dizer o mesmo, ainda por cima tão cedo, e ainda por cima numa Faculdade de Direito, onde todos são exigentes, todos querem cunhas, todos querem ser alguém. Desde o início da minha licenciatura soube como utilizar os meus fatores diferenciadores em meu favor: sendo de esquerda, parecia-me que tinha atingido um equilíbrio perfeito entre ser subversiva para captar a atenção, mas não o suficiente para alienar o status quo. Esta visão das coisas até se refletia na forma como me apresentava e me comportava: vários piercings, mas não em sítios estranhos; cortes de cabelo muito curtos, mas nunca em cores berrantes; de esquerda e interventiva, mas nunca de uma forma que me pusesse a jeito de ser chamada «feminista histérica». Eu queria pertencer ao status quo, e, inocentemente, destruí-lo por dentro. Esta era a visão que eu tinha. Ironicamente, teve o efeito pretendido nos outros (normalmente mais difíceis de convencer), mas um efeito inesperado em mim própria.
II.
Tinha conseguido delicadamente entrar na hierarquia social do associativismo jovem. Destaquei-me no momento certo, recebi o convite, as pessoas começavam a gostar de mim, navegava sem obstáculos na dinâmica interna da associação – e agora o convite de ser eu a representar a associação no tal evento. Era o momento perfeito: como as coisas estavam encaminhadas, chegaria a presidente da minha associação, e, quem sabe, voos mais longínquos. Estes eram os meus pensamentos mais íntimos, tão blasfemos, tão audazes de ter, impronunciáveis até uma derradeira decisão a tomar anos depois, mas um pensamento que borbulha, sem dúvida, desde muito cedo em todos os que a tomam.
O porquê de eu ter este desejo de ser presidente, ou querer em primeira instância fazer parte destes círculos, era algo que não era muito claro para mim até muito mais tarde, já depois de desistir do associativismo. Deixo já cair a farsa que muitos defendem do «chamamento cívico» – o associativismo é uma hierarquia social que colmata falhas de personalidade nas suas figuras, tendo como efeito indireto a dedicação à comunidade. A minha falha de personalidade era, sem dúvida, uma ânsia de me tornar visível, conhecerem o meu nome, saberem que existo, deixar algum tipo de legado. Outra falha de personalidade muito comum é a falta de amigos e de uma comunidade, colmatada rapidamente por uma sensação de adoração dos de fora («nós temos algo que eles não têm») e de espírito de camaradagem que instantaneamente se cria nestes círculos. Mas a minha preferida, e a que resulta nos dirigentes associativos mais execráveis, é a falta de sentido na vida. Não se conhecendo, encontram ali uma escapatória fácil para sentir que estão a fazer algo de útil com a sua vida – o que normalmente resulta nos dirigentes mais acríticos e os defensores mais acérrimos do status quo («porque é que és sempre do contra?!»). Era essa a mentalidade em que me encontrava no autocarro a caminho de mais um passo numa promissora carreira. Sentia-a quase na ponta dos dedos – se erguesse a mão para a agarrar, conseguia-a.
III.
Poderíamos criar paralelos entre o associativismo e a política partidária tradicional, mas parece-me que o associativismo é um ambiente ainda mais sui generis no que se trata de jogos de influência, de poder, de visibilidade.
No associativismo não há propriamente linhas ideológicas a seguir; inclusive é, atualmente, mal visto haver as tais tendências político-partidárias, sob o risco de alienar estudantes da mobilização cívica por não concordarem com a linha política da sua federação estudantil. Parece-me, então, evidente, que o associativismo jovem vive agora por um auto constrangimento de ser apolítico: na ansiedade de agradar a todos, não agrada a ninguém. Ou melhor, não incomoda ninguém, o que é suficiente para a carreira de alguns. O que agora são grandes bandeiras do associativismo são frases inócuas que não se traduzem em nada, o chamado «sou a favor das coisas boas e contra as coisas más». Quantas vezes vimos: o representante do movimento estudantil na televisão como representante da voz dos estudantes a assumir um tom de voz crítico, um cara de frustração e a posar com traje académico, mas quando é para esmiuçar as suas declarações, não são mais do que afirmações insípidas. Será esse dirigente estudantil que, uns anos depois, é assessor num governo de esquerda ou de direita – se não tens linha partidária, não ficas sujeito às intempéries de, quando chegar a tua hora de comer, não estares do lado perdedor.
Com certeza eu veria algo de diferente, num ambiente mais íntimo, do que a primeira impressão que me foram deixando ao longo do tempo os altos representantes do associativismo jovem português. Tive a sorte de fazer parte de um bom núcleo, onde havia pessoas críticas, vozes diferentes, em que não sentia isso nesse círculo mais pequeno; com certeza, seria parecido a um nível maior. Se talvez fossem obrigados a ser mais aprazíveis em aparições públicas, carregariam consigo convicções profundas nos seus próprios círculos de intervenção. Outra conclusão errada e inocente da minha parte – mas não há melhor como ver com os nossos próprios olhos algo tão gritante que não nos obrigue a confrontar com a realidade.
IV.
Era um fim de semana de formação de dirigentes associativos. Estes são alguns momentos importantes para, nestes círculos, conhecer e ser conhecido, sendo absolutamente fulcral saber apalpar terreno e deixar uma boa primeira impressão.
Chegámos ao hotel e estávamos por volta de cinquenta jovens a fazer fila para dar entrada nos quartos. Depois de algumas tentativas falhadas de criar conversa orgânica, deram-nos a chave e fomos pousar as nossas coisas no quarto duplo, ainda a tempo de termos uma sessão noturna para apresentação do programa para os dois dias seguintes. Preveniram-nos de um programa intenso, a começar às oito da manhã e a terminar às dez da noite.
Lembro-me agora que as condições em que estávamos pareciam sustentar o meu estado de espírito um pouco ansioso. Era noite às seis da tarde, a fazer um frio gélido vindo da serra numa vila desolada do interior, neblina que nunca nos abandonou durante três dias, um hotel com decoração inexpressiva, a ausência de contacto com pessoas da vila (já não se via ninguém na rua quando fazia escuro), isto tudo a somar aos meus comportamentos, um sorriso doce para instigar conversa nos outros, na expectativa de suavemente criar contactos.
Não me saía naturalmente, ou talvez eu hiperanalisava o meu fingimento na minha cabeça e presumia que os meus interlocutores o notavam de volta. Quando a mente impede a livre desenvoltura dos desejos, rapidamente nos sentimos farsantes; ou se não, o corpo encarrega- se de sinalizar de volta para pararmos de instigar comportamentos contranatura. Talvez por isso a minha exaustão física se transmutaria em exaustão enferma, e me começaria a sentir bastante doente, já entranhada nos acontecimentos do fim de semana.
Ainda nessa noite tivemos oportunidade de jantar no espaço reservado para o grupo inteiro. Novamente o desespero de nos integrar rapidamente – aliámo-nos às três pancadas a um grupo grande de estudantes de Direito de outra faculdade, situação na qual as exigências de fazer conversa fiada diminuem substancialmente pelo puro número de intervenientes. Eram também moderadamente simpáticos (mais do que o estereótipo dos estudantes da universidade privada daria a crer) – e por isso era já um sucesso.
Nesse momento já se traía a dinâmica que se arrastaria para o resto dos dias, e a atuação em geral dos altos órgãos. Pelo canto do olho no buffet e ao longo do jantar, houve de imediato a constatação do distanciamento físico entre o órgão de gestão a nível regional e os meros núcleos: um grupo restrito composto exclusivamente pela direção do tal órgão, acompanhados dos seus assistentes de trabalho e convidados, ocupava uma mesa no canto mais fundo do salão, enquanto as restantes – e onde nos situávamos nós – preenchíamos de forma corrida as da outra ponta da sala. Não me recordo de dirigirem a palavra a qualquer participante.
Uma pessoa se insinuava em particular, a líder. A composição estava veladamente montada por degraus de importância: ela no centro, do seu lado o Presidente da Câmara e os possíveis sucessores ao cargo; depois os restantes membros da direção, virados contra mim, e finalmente os assistentes de trabalho – o fotógrafo, a secretária. Tal e qual n’A Última Ceia, a líder como o eixo central da composição, com todos os outros intervenientes sobre ela inclinados.
O particular contraste entre ela e o que depois se saberia o vencedor à corrida na sua sucessão. Ele, inchado e com as bochechas com rosácea, num pullover grená com um símbolo muito grande da Ralph Lauren, esbracejava e falava consideravelmente mais alto do que o resto da mesa, potencialmente a lançar perdigotos (eu não veria os projéteis, mas só os conseguia imaginar do meu banco tão distante) a tentar criar cumplicidade com o Presidente da Câmara. Ela, por seu lado, soltava um sorriso descomprometido com a cena que via a desenrolar-se entre o político e o seu colega, olhando de relance para o resto da sua mesa.
Morena de pele branca, alta, incrivelmente magra e seca, tinha as mãos de dedos muito finos entrecruzadas sobre o queixo, com os cabelos longos a escorrem-lhe pelos ombros. A sua elegância era discreta e irrepreensível. Imaginava que lojas de roupa frequentaria – talvez Decenio. Parecia-me o sinónimo de sobriedade, algo que eu achava que não tinha e que, mesmo não tendo a certeza se alguma vez desejaria, secretamente invejava: nada na sua postura, na sua forma de apresentação, na sua história pessoal teria pontas soltas por onde pegar e ser inquisitório. Este tipo de contenção meticulosa sempre me desconcertou. Nunca se conheciam (não deixava conhecer) relações amorosas, gafes ou bebedeiras embaraçosas. Um trajeto de retidão, o que a mantinha incólume de boatos após tantos anos no meio; mas igualmente insípida, como muitos lhe chamavam.
Mas eu sabia que não era a caracterização correta, «insípida». Eu via-a, e distinguia perfeitamente o brilho no olhar que ela tinha, algo mais profundo e subliminar que me parecia que ambas entendíamos perfeitamente, e que os seus outros colegas tentavam mimetizar, mas sem sucesso. Ela entendia mais profundamente as dinâmicas sociais em que se enquadrava, e com elas era perfeitamente conivente. Sabia da bajulação que lhe faziam e aceitava-a de bom grado; mas via para além disso, porque a bajulação termina tão rápido como começa. Como poucos conseguiriam afirmar, nunca tinha perdido de vista o objetivo final, numa longa maratona de reuniões intermináveis, presenças a que não queria ir, sorrisos ensaiados para as câmaras da televisão. Sabia da farsa e gostava dela, mas, mais importante que isso, sabia como a orquestrar em seu favor.
Eu olhava para ela e, no fundo, queria acreditar que, reconhecendo qual era o fator diferenciador desta figura, também o teria. Estávamos precisamente no eixo de visão uma da outra, a mesas de distância; bastaria que desviasse o olhar para além do seu núcleo duro e os nossos olhos se cruzariam. Mas os seus permaneceram ancorados nos rostos dos colegas.
Isabel Lobo nasceu em Braga em 2002. Jurista pela Universidade do Porto e Mestranda em Estudos Políticos Europeus no Colégio da Europa, interessa-se por narrativas de poder, desilusão jovem e o vazio do mérito. Escreve para dar sentido aos marcadores sociais que observa à sua volta. Fã de Beyoncé.

.jpg)