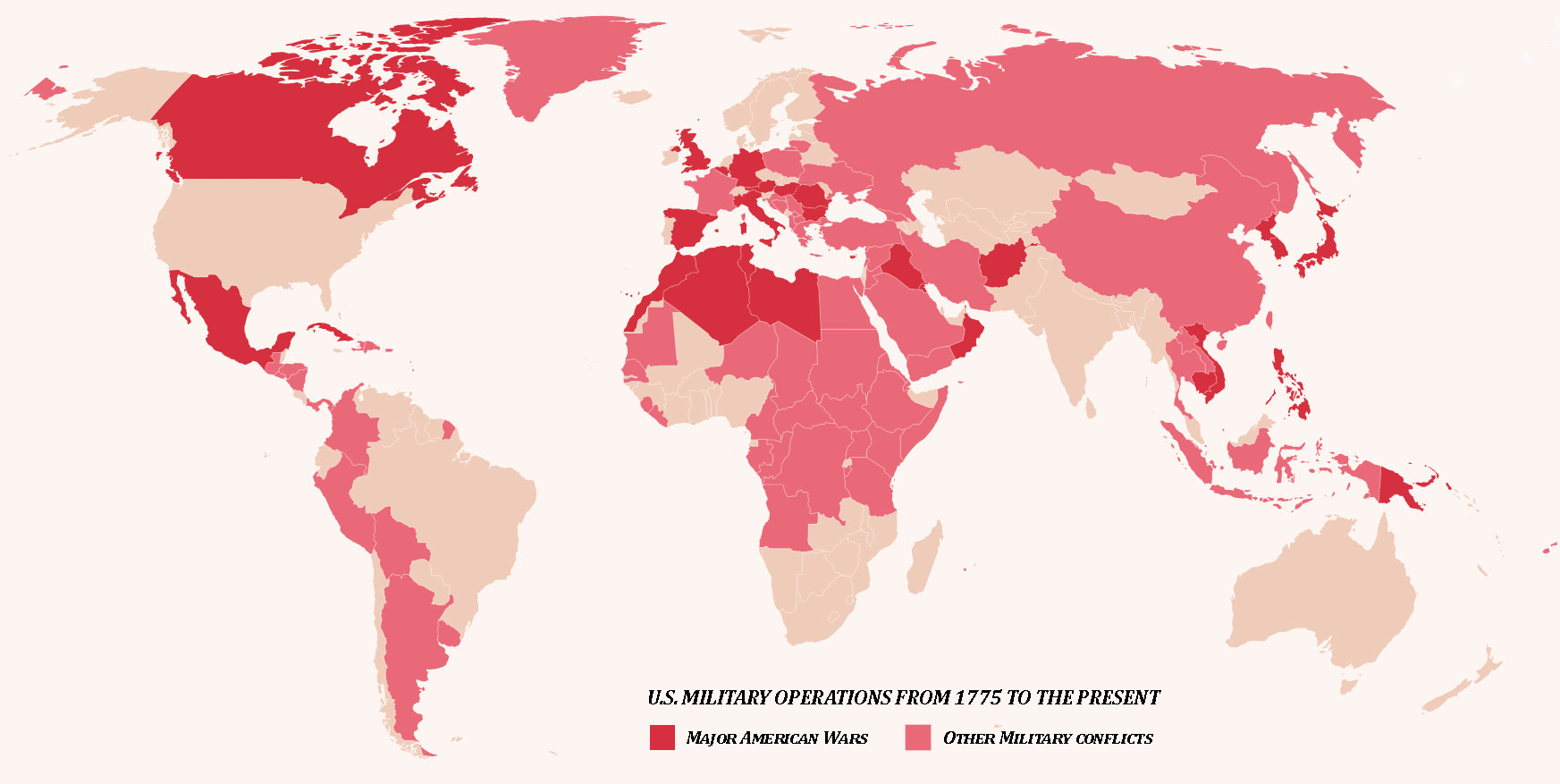Arrisco-me a dizer que Édouard Louis é um dos autores mais relevantes da actualidade, com apenas 33 anos e já sete obras publicadas. O autor é um transbordo de classe, e através da publicação dos seus livros, a que chamou recentemente «O Ciclo Familiar», faz um retrato e uma crítica social muito fortes à pobreza, à violência, à masculinidade e à classe dominante.
É difícil não nos deixarmos comover pela escrita de Édouard Louis, autobiográfica, acessível, clara, crua, e não nos sentirmos próximas dele, da sua família, da aldeia onde cresceu, no norte de França, com pouco mais de 1500 habitantes.
Ao longo das suas obras, somos transportados para a realidade da aldeia operária, conseguimos sentir as sensações da pobreza, o bolor nas paredes, as estradas lamacentas, o frio, a escassez, a violência, a masculinidade e a dominação.
No seu primeiro romance, En finir avec Eddy Bellegueule (2014), Édouard reconstrói autobiográficamente a sua infância e início de adolescência, nesse ambiente de pobreza e de violência. Édouard Louis é o primeiro da sua família a chegar ao ensino secundário e a entrar na universidade e este primeiro romance é a história da sua fuga.
Naquela aldeia, como em tantas outras, existe como que uma fatalidade que se traduz em abandono escolar precoce, no consumo excessivo de álcool, na condenação a empregos precários, a uma vida operária, onde a violência se traduz numa morte prematura. Naquela região, os homens têm 50% mais de probabilidades de morrer antes dos 65 anos devido às condições de trabalho a que estão sujeitos, onde o álcool surge frequentemente como forma de evasão, às condições de vida e à ansiedade constante da escassez, da miséria e da cólera.
No seu romance de estreia, o autor descreve-nos o encadeamento de momentos que o levaram até à sua fuga. Não terá sido o seu desejo de fuga que lhe permitiu o transbordo de classe mas sim a exclusão do seu meio. Efeminado desde pequeno, era humilhado pela aldeia e pela família, lá onde a masculinidade era vivida com particular ênfase, não sendo apenas uma questão de identidade individual mas também como um imperativo social, uma condição de pertença. Ser homem era ser duro, forte, agressivo, não mostrar emoções, beber, dominar. Essa masculinidade inscreve-se na pobreza e na precariedade, pois não existem outros elementos de diferenciação (culturais ou económicos), o corpo viril é o veículo de afirmação, o corpo é o instrumento de trabalho e simultaneamente de poder: o corpo que suporta a dor, o frio, sem se queixar. Porém, os homens da aldeia vivem sob a constante ameaça de não serem suficientemente homens. Entre eles, qualquer traço de fragilidade, de sensibilidade, de diferença, é punido com humilhação.
É assim que, desde pequeno, encarna essa exclusão – é insultado, ridicularizado, visto que a sua diferença põe em causa o único capital que os outros possuem: o da força.
Como tal, tenta durante todo o seu desenvolvimento, corrigir os seus gestos, a sua voz, pertencer à família, aos outros, endurecer-se, gostar de futebol e gostar de mulheres. Não existia outra forma de falar de um homossexual que não fosse através do insulto, nem um lugar como a Internet, para se conectar a outros como ele. Quando crescemos sem o sentimento de pertença, de segurança, de que somos vistos e cuidados, tentamos, como a maioria das crianças agradar aos pais, ser o que eles esperam, na tentativa de manter esse vínculo, de obter amor. Tornamo-nos bons a observar os outros, a lê-los, ficamos ligados emocionalmente, aprendemos a ouvir o que não nos dizem, e passamos a existir a partir deles, do que sentem, do que pensam; passamos a estar dependentes do olhar dos outros que nos são íntimos, da sua validação, como forma de existência. Mas o que é que acontece quando o olhar do outro é um olhar rejeitante e crítico? Talvez sejamos mesmo abjectados e a única saída seja a procura de uma coisa melhor noutro sítio.
Se Édouard não encontrou o seu lugar entre os homens, gravitou muito cedo para perto das mulheres, entre as quais era muito mais seguro estar, onde o seu corpo dissidente podia existir, um espaço de oxigenação, de interrupção da violência. Muitas vezes, para se proteger da violência, procurava os espaços seguros, onde a masculinidade não estava – nomeadamente as bibliotecas, as aulas de teatro, o estudo, o que acabou por ser uma porta de saída para um mundo onde ele podia existir. E é isso que conta em Changer: Méthode (2021), toda a sua transformação, aquando a sua chegada ao liceu em Amiens, e posteriormente a sua ida para Paris. Conta como certas figuras permitiram a sua transformação, como se apercebeu de que as classes sociais não eram apenas uma questão de ser rico ou de ser pobre, mas sim uma sequência de requisitos, como portais por que tinha de passar para aceder à burguesia e se afastar cada vez mais da sua família, da sua aldeia, e daqueles que o tinham humilhado.
Édouard era, nessa altura, movido por um desejo de vingança, de provar aos outros que tinha ganhado, e inicia uma série de transformações que o levam até frequentar a mais alta aristocracia de Paris. Só que, quando chega lá, apercebe-se que é um transbordo de classe, alguém que não pertence a lado nenhum – mas que conhece os dois mundos. É a frequentar a mais alta burguesia que sente uma enorme repulsa pela classe dominante e um imperativo em contar a sua história, falar das pessoas da sua aldeia, das pessoas que sustentavam o privilégio de uns, mas para os quais os outros não queriam olhar.
Para Édouard, a violência não é um acto em si, para ele a violência funciona como uma corrente eléctrica que atravessa os corpos, e que se explica, não só de uma perspectiva psicológica mas, sobretudo, social. Em Qui a tué mon père (2018), o autor denuncia a realidade do pai, que trabalhava, como a maior parte dos homens da aldeia, numa fábrica de metalurgia, o que se traduzia num trabalho árduo e mal pago. Nessa fábrica, já tinha estado o avô, e era onde Eddy estaria também destinado a trabalhar. A violência das condições de trabalho fazia com que a maior parte dos homens bebesse quantidades muito grandes de álcool, o que fazia com que o pai de Édouard fosse violento com a mãe, e ela, por sua vez, com os filhos.
Um dia, o pai sofre um acidente de trabalho que faz com que ele fique acamado e incapacitado para trabalhar, passando a viver de subsídios e ajudas do Estado. Qui a tué mon père não é só a narrativa familiar, é também uma interpelação directa a Nicholas Sarkozy e a Emmanuel Macron: ao poder executivo. Ao mencionar certas reformas, o autor explica como é que certas leis tiveram impacto directo no corpo do pai – como é que transformaram e debilitaram o seu corpo e, por conseguinte, o seu único instrumento de afirmação. Em última instância, o livro evidencia a assimetria entre os que produzem a política e os que a vivem, sublinhando que o poder político actua materialmente sobre os corpos da classe trabalhadora, mas permanece abstracto e inócuo para os corpos da burguesia.
E é por isso que, apesar de toda a violência a que foi exposto, Édouard sente-se na responsabilidade de contar a história daqueles que nunca tiveram voz. Contar a história daqueles para quem a literatura nunca foi acessível:
Há vidas que fazem chorar, e se eu não escrever um livro que faça chorar, eu estarei a trair a vida deles. Escrever sobre a vida das mulheres, dos dominados, das pessoas como o irmão ou a minha mãe, é começar uma guerra com a literatura.
Através da sua escrita, Édouard interroga a própria literatura. Escrever sobre a sua família é, para ele, começar uma guerra com a tradição literária e com a crítica, que ainda valoriza uma literatura sem pathos, implícita, contida. Essa apresenta-se como um elemento estético de distinção – oposta à da classe popular, que por sua vez está conectada ao sentimentalismo das telenovelas, dos best-sellers, daquilo que faz chorar, do «menos bom», do feminino.
Sobre o feminino também escreve Édouard Louis, com dois livros dedicados à mãe Combats et métamorphoses d’une femme (2021) e Monique s’évade (2024), em que conta a vida desta mulher, durante anos silenciada, enclausurada na opressão e no medo, que se conseguiu libertar dos homens que a oprimiam, e fugir também ela à realidade onde parecia estar condenada a morrer. Conta também como é que, uma vez a corrente da violência interrompida, existe a possibilidade de reconstruir uma relação mais próxima e justa entre os dois.
A violência é um leitmotiv nas obras de Édouard Louis, e em entrevista ao podcast Folie Douce (2023), o autor conta que a melhor forma de combater a violência, é percebê-la. Perceber a violência é a tentativa de ir às raízes para poder cortá-las. E é por isso que em Histoire de la violence (2016), Édouard nos oferece o relato muito íntimo de uma agressão de que foi vítima, e explora o próprio trauma, assim como o racismo e a discriminação. Ao invés de uma perspectiva punitiva, que enclausura em prisões, que a segrega, e a nega; ao tentar compreendê-la, estamos também a desmantelá-la, a tirar-lhe poder, a integrá-la.
Ler Édouard Louis é ir adicionando camadas à vida, é sair da polarização das coisas, para tecer teias de interacção muito mais complexas – onde os intervenientes não são só bons ou maus, onde interagem factores psicológicos, sociais e políticos.
O seu último livro saiu este ano, e dedica-se a investigar a vida do seu irmão, que morre prematuramente, com apenas 38 anos. L’effondrement (2024) começa na constatação da indiferença que o autor sente relativamente à morte do irmão. Há dez anos que se tinha afastado dele, por ser alcoólico, homofóbico, uma pessoa violenta, que ele desprezava, por ter batido nas mulheres com quem tinha estado, por quase ter deixado o pai de Édouard paraplégico. Mas escrever a história dele era tentar compreender essa violência.
Enquanto em Qui a tué mon père, os acusados tinham sido os patrões, os políticos e o capitalismo, desta vez, o réu chamava-se: Ferida, Abandono, e Falta de amor:
Todos os homens da aldeia bebiam muito, mas nenhum homem bebia tanto quanto o irmão. Todos os homens morriam mais cedo, mas ele morreu ainda mais cedo. Toda a gente sonhava comprar uma televisão ou um carro para ir para o trabalho, mas o meu irmão sonhava com coisas maiores.
Havia algo que não se explicava somente pela perspectiva sociológica, e foi preciso Édouard ir à Psicologia encontrar as fontes de sofrimento do irmão, compreender que este tinha sido toda a vida atormentado pelo abandono do pai. Por detrás do homem violento, estava a criança que à noite chorava o abandono do pai e a falta de amor dos outros. Voltemos à masculinidade e à impossibilidade de os homens mostrarem os seus sentimentos, nestes contextos, longe das cidades, onde não se fala de saúde mental, onde não há vocabulário para a depressão e para a ansiedade. Segundo um relatório recente da OMS, cerca de 70% das pessoas que morrem de suicídio são do sexo masculino. A tristeza dos homens é muitas vezes transformada em raiva, em isolamento ou em abuso de álcool, e existe um sub diagnóstico de depressão nos homens, devido ao facto de procurarem menos ajuda psicológica.
É por isso que falar do íntimo, do autobiográfico, é um acto político. A autobiografia, como estilo, sempre foi uma técnica dos dominados, das mulheres, dos homossexuais, das pessoas vítimas de racismo, dos refugiados de guerra, dos sobreviventes do holocausto. Como se quem sobrevivesse à violência fosse evocado a contar a sua história, a contar a violência.
Ao expor a própria vida, Édouard Louis desmonta o mito da responsabilidade individual – essa ideia de que cada um é inteiramente culpado pelo que lhe acontece. A autobiografia, no seu caso, é uma forma de devolver o político ao pessoal: mostrar que o sofrimento não nasce dentro de si, mas das estruturas que o produzem – da classe, do género, da violência simbólica. Num mundo neoliberal que nos ensina a esconder as falhas e a transformar o sofrimento em mérito, escrever sobre a própria dor é uma forma de insurgência. Falar da sua família, do sofrimento, do que envergonha, é devolver humanidade àqueles a quem a sociedade retirou o direito de sentir e, sobretudo, de falar.
A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1945.
Leonor Ramada, 30 anos. Desistiu da Faculdade de Letras para ser Psicóloga Clínica, já que gosta tanto de ser útil e de cuidar das pessoas. Gosta também de cozinhar, de estar com os amigos e de trabalhar poucas horas.

.jpg)