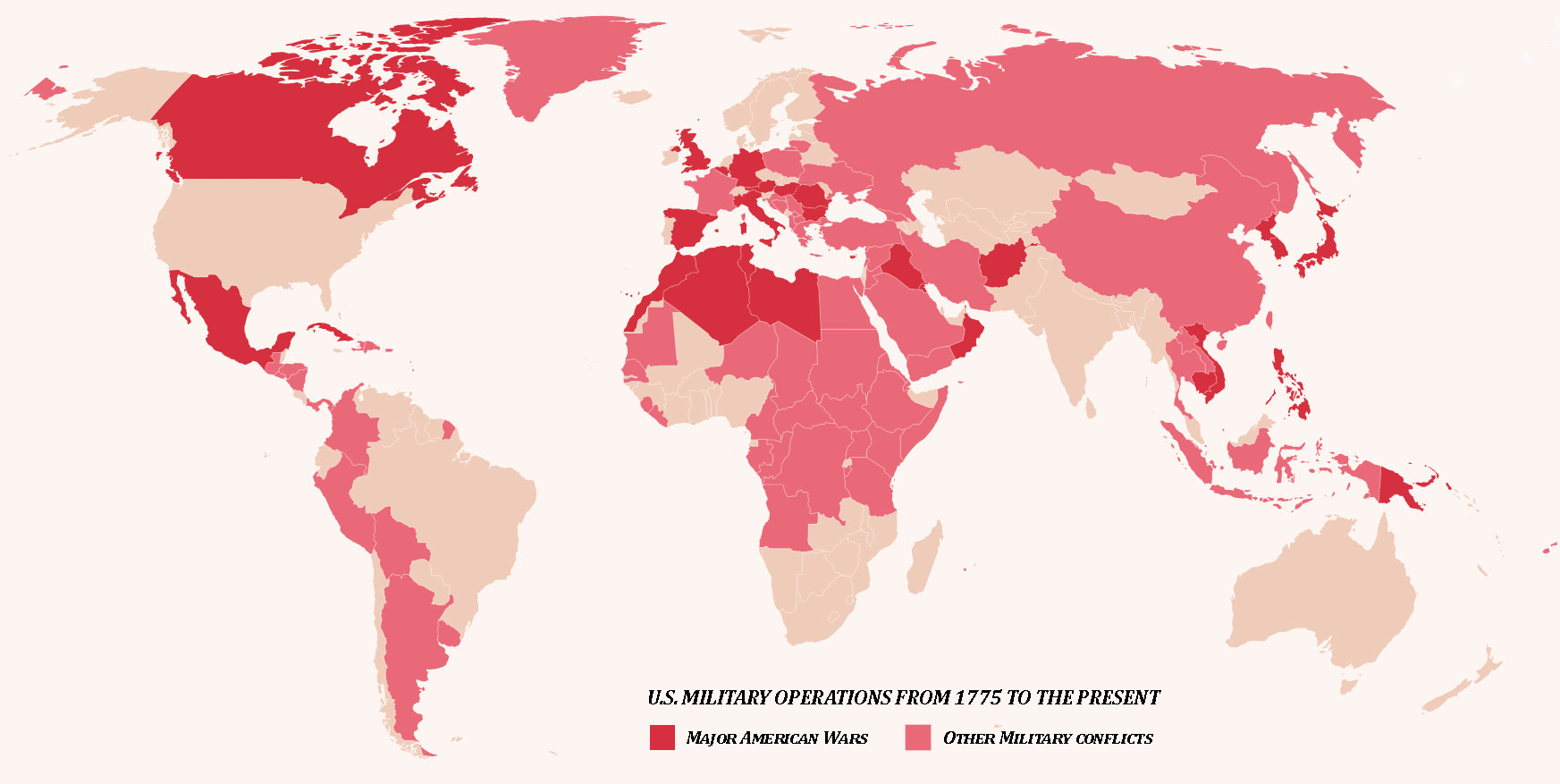A prisão é frequentemente apresentada como uma resposta inevitável à transgressão da lei. Contudo, importa questionar: para quem, com que finalidade e sob que lógicas construímos estes espaços de reclusão? Este ensaio propõe uma reflexão abreviada sobre os mecanismos económicos, políticos e ideológicos que sustentam o sistema prisional contemporâneo, explorando as suas implicações na reprodução da exclusão social e na mercantilização da punição.
Nos Estados Unidos, o sistema prisional ultrapassou há muito a sua função declarada de contenção. O chamado complexo industrial-prisional configura uma estrutura económica e política que transforma o encarceramento num instrumento de acumulação de capital. As empresas privadas constroem e gerem estabelecimentos prisionais e exploram as pessoas privadas da liberdade, frequentemente remuneradas abaixo de um dólar por hora.
A 13.ª Emenda da Constituição dos EUA, ao permitir o trabalho forçado como punição legal, legitima uma forma contemporânea de servidão institucionalizada. Este modelo reduz o corpo encarcerado a um recurso produtivo, integrando-o numa cadeia de valor que inclui setores como a indústria têxtil e farmacêutica, os serviços de atendimento remoto e a produção militar. A existência de prisões privadas inscreve-se, não raramente, numa lógica neoliberal de capitalização do castigo.
«Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.» Thirteenth Amendment
Angela Davis conceptualiza esta lógica como uma tecnologia de administração do «excedente humano», isto é, sujeitos historicamente marginalizados e considerados supérfluos pelas transformações estruturais do capitalismo e pela desindustrialização. A prisão, neste enquadramento, assume-se como um mecanismo de reprodução sistémica das desigualdades étnicas, sociais e económicas, onde a punição é objeto de mercantilização e a exclusão é institucionalmente consolidada.
É certo que a maioria dos países europeus mantém a gestão pública dos estabelecimentos prisionais. No entanto, esta aparente distância ideológica não impede a infiltração progressiva de práticas de instrumentalização económica. Em diversos contextos, as empresas privadas assumem funções essenciais dentro das prisões, desde a alimentação aos cuidados de saúde até à formação profissional e à segurança.
Esta externalização de serviços, frequentemente justificada por argumentos de eficiência e racionalização de custos, introduz uma lógica de rentabilidade naquele que deveria ser um espaço que privilegia o cuidado e a reabilitação. A fronteira entre o serviço público e o interesse económico torna-se difusa, e o risco de uma privatização estrutural, ainda que dissimulada, começa a desenhar-se, passo a passo, no horizonte político e institucional europeu.
Segundo apurou o Fumaça, as pessoas que estão presas, em Portugal, recebem, em média, 60 euros por mês, com jornadas de trabalho diárias de sete a oito horas. Se, enquanto sociedade, nos recusamos a tratar as pessoas privadas da liberdade com dignidade e respeito, como podemos esperar que passem a agir em conformidade com a lei e que se venham a integrar profissionalmente?
Há uns meses, o Expresso noticiou que o número de pessoas condenadas a cumprir pena de trabalho a favor da comunidade sofreu uma redução de 50 por cento em apenas oito anos. Contudo, as penas de prisão de curta duração revelam-se, na maioria dos casos, ineficazes e contraproducentes no cumprimento dos objetivos fundamentais da justiça penal. Ao invés de promoverem a reabilitação ou a reintegração social, estas penas tendem a interromper precariamente os vínculos familiares, laborais e comunitários dos indivíduos, sem tempo suficiente para implementar programas estruturados de apoio psicológico, formação ou capacitação profissional.
Michel Foucault propõe uma leitura crítica do estabelecimento prisional enquanto instrumento central na constituição das sociedades modernas. O autor propugna que a reclusão é, na verdade, um dispositivo de poder que atua sobre os corpos e as condutas, promovendo a vigilância e a produção de sujeitos obedientes e acríticos. O sistema prisional contribui tanto para a reprodução das desigualdades como para a legitimação da exclusão. A análise foucaultiana contesta, também, os fundamentos ideológicos da pena de prisão e questiona o seu papel na manutenção da ordem social.
«Are the prisons overpopulated, or is the population over-imprisoned?» Discipline and Punish, Michel Foucault
Apesar da sua postura crítica, Foucault esteve envolvido em vários movimentos de reforma prisional, como o Groupe d’Information sur les Prisons (GIP), fundado em 1971. Contudo, manteve uma posição ambivalente em relação às reformas institucionais. Em Discipline and Punish, Foucault defende que cada tentativa de melhorar o sistema prisional tende, pelo contrário, a reforçar e a aprimorar os mecanismos de controlo. Esta tensão entre a teoria e a prática revela, na verdade, a complexidade do pensamento foucaultiano. Se por um lado reconhece a necessidade de resistir às formas mais brutais da punição e da privação da liberdade, o filósofo alerta para o risco das reformas se tornarem apenas uma atualização das técnicas de dominação.
Para Antonio Gramsci, a prisão não representa apenas um espaço de confinamento físico mas também um instrumento político de repressão destinado a silenciar as forças opositoras ao poder hegemónico. Encarcerado pelo regime fascista de Mussolini, Gramsci transformou a sua experiência pessoal num exercício intelectual. Na obra Quaderni del Carcere, o autor denuncia a prisão como parte integrante do aparelho ideológico do Estado.
Referindo-se ao estabelecimento prisional como uma «gigantesca clessidra», Gramsci exprime o sofrimento psicológico da privação da liberdade, especialmente entre os intelectuais, cuja consciência crítica intensifica a perceção da reclusão e da passagem do tempo. Contudo, o filósofo transcende a mera denúncia ao desenvolver o conceito de hegemonia, entendida como uma forma de dominação que se perpetua não apenas pela força, mas pelo consenso social, através da passividade das instituições.
A prisão surge, assim, como um dispositivo que visa desarticular a capacidade de organização dos indivíduos. Ao valorizar a educação como instrumento de emancipação e ao propor a figura do «intelectual orgânico», Gramsci aponta para a possibilidade de resistência e transformação social em contextos de opressão.
«La prigione è una gigantesca clessidra, nella quale il tempo scorre lentamente, grano per grano, in una monotonia che logora lo spirito.» Quaderni del Carcere, Antonio Gramsci
Acreditamos piamente que os nossos direitos e liberdades estão mais assegurados pela existência das prisões, mas na verdade os estabelecimentos prisionais dedicam-se a controlar e a excluir grupos historicamente marginalizados, a silenciar vozes e a punir comportamentos dissidentes.
A prisão tornou-se, ao longo dos últimos séculos, uma resposta automatizada a fenómenos como a pobreza, o racismo, a exclusão social e a doença mental, funcionando como uma «solução geográfica» para problemáticas que exigem intervenção política e comunitária. Ao invés de reformas superficiais, Angela Davis propõe a abolição do sistema prisional como parte de um projeto mais amplo de justiça social, que exige o desmantelamento das estruturas que sustentam a violência institucional. Neste contexto, a justiça restaurativa surge como uma alternativa viável, centrada na reparação do dano, na responsabilização do agressor e na participação ativa da vítima e da comunidade, promovendo processos de reconciliação.
É, também, fundamental investir em serviços públicos, nomeadamente na saúde mental, na educação, na habitação e no emprego, como forma de prevenir os comportamentos que, em sociedades desiguais, são frequentemente criminalizados. O fortalecimento das comunidades e a criação de mecanismos locais de resolução de conflitos são essenciais para substituir a lógica punitiva por uma abordagem transformadora. Esta justiça procura alterar as condições estruturais que geram violência, como o racismo sistémico, o patriarcado e a marginalização económica. Não há forma de construir uma sociedade mais justa, equitativa e democrática se o sistema penal e prisional continuar a criminalizar a pobreza.
No plano mediático, são cada vez mais frequentes os programas televisivos com um carácter sensacionalista que abordam temas relacionados com o sistema prisional e com as pessoas privadas da liberdade. A ascensão da extrema-direita provoca, também, uma tendência preocupante: a exploração da dor e da marginalização. Ao invés de promoverem uma reflexão crítica sobre as causas sociais, económicas e institucionais que conduzem ao crime, muitos desses formatos optam por retratar as pessoas reclusas como personagens monstruosas, perigosas, desumanizadas ou caricaturais, reforçando estigmas e crenças profundamente enraizadas na sociedade.
Esta abordagem não só ignora os princípios fundamentais da reintegração e da dignidade humana, como contribui para a perpetuação do preconceito, dificultando a reinserção social e laboral de quem já cumpriu pena de prisão. Ao transformar a realidade prisional num espetáculo, estes programas com aspirações jornalísticas abdicam da sua responsabilidade pública e educativa, promovendo uma narrativa simplista e punitiva que alimenta o medo em vez da compreensão. É urgente repensar o papel dos órgãos de comunicação social e do jornalismo na construção de discursos mais justos, informados e humanizadores sobre as pessoas que estiveram – ou estão – privadas da liberdade.

.jpg)