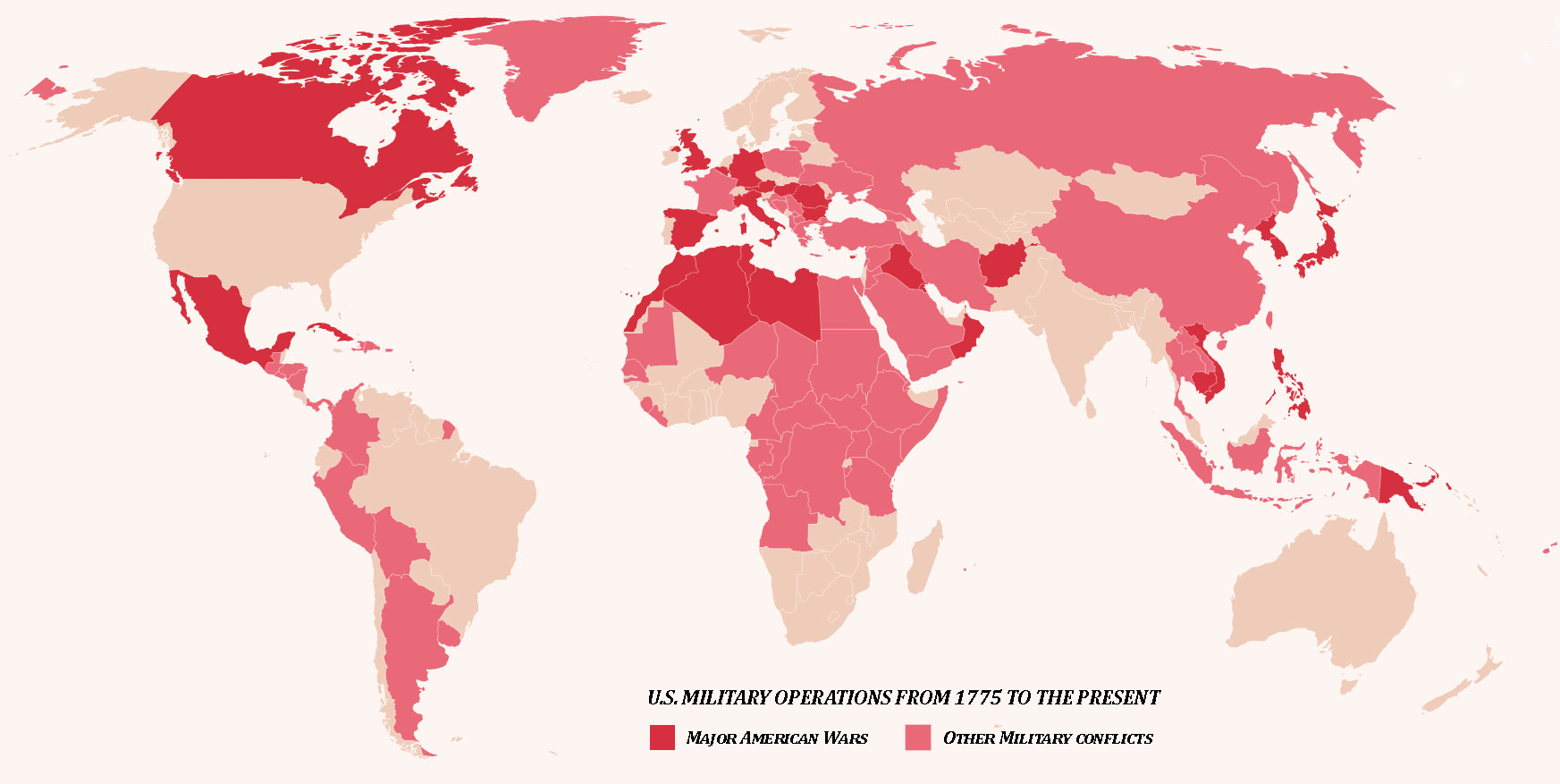«A paisagem é o resultado da cultura que imprimimos no território.»
Maria do Rosário Oliveira
Apesar da perceção comum, uma paisagem não é apenas um cenário com uma vista ampla e agradável ao olhar. Vai muito além da identidade visual de um território e engloba múltiplas dimensões que interagem entre si – da ecologia à economia, das dinâmicas sociais à cultura, do ordenamento do território ao seu legado histórico, da legislação à governança e, claro, também à estética. As paisagens enquadram processos e dinâmicas de várias naturezas, dando escala a ações locais e, ao mesmo tempo, contextualizam fenómenos globais. Compreender a complexidade que as caracteriza permite-nos interpretar o passado, refletir sobre o presente e projetar o futuro destes sistemas sócio-ecológicos.
A coexistência de diferentes identidades, valores e usos de um território faz das paisagens uma construção coletiva. Por isso, são precisos modelos de gestão que garantam uma resposta às necessidades das comunidades locais e dos ecossistemas e que simultaneamente explorem e desenvolvam as oportunidades e especificidades de cada território. De uma forma simplista, é no confronto e balanço destes interesses, através de processos e instrumentos de decisão e participação, que se define a gestão de uma paisagem. Entendidas a partir deste equilíbrio, as paisagens podem ser reconhecidas como espaços democráticos que agregam a dimensão humana com a infraestrutura ecológica que a suporta. Esse caráter democrático permite uma adaptação das paisagens aos constantes desafios que se vão revelando, para além de ser um indicador útil para avaliar a justiça social e ambiental de um território.
Observando o perfil democrático das paisagens, tornam-se óbvias as assimetrias que se assistem pelo território português, do Norte ao Sul, do litoral à raia e sem esquecer as ilhas. Não é um fenómeno novo, bem pelo contrário. Exemplo disso foram as expropriações dos baldios comunitários contra a vontade das populações entre as décadas 30 e 60 do século passado para plantação de monoculturas florestais de pinheiro-bravo e eucalipto em plena ditadura do Estado Novo. Este marco histórico das paisagens portuguesas, retratado por Aquilino Ribeiro na sua obra Quando os lobos uivam, é ilustrativo de modelos de gestão da paisagem que excluem de quem delas depende e que nos ajudam a entender muitos dos desequilíbrios atuais que se propagam pelo país. Já nos dias que correm, muitas dessas assimetrias são expostas através de uma crescente polarização do território segundo um espectro de interesse – de um lado, o seu abandono e, do outro, um apetite galopante de modelos intensivos.
Comecemos então por um dos lados desse espectro. Quando se abandona um terreno, os custos da ausência de gestão são transferidos para a sociedade, por exemplo, sob a forma de elevados custos financeiros de prevenção e combate aos incêndios florestais, além dos incalculáveis custos ambientais e sociais. Não existindo mecanismos capazes de desincentivar esse abandono ou de propor destinos alternativos às terras abandonadas, a coesão do território fica comprometida. O que poderia ser uma oportunidade única de repensar o uso dessas terras para outros fins, por exemplo para o tão necessário restauro dos ecossistemas ou para implementação de modelos agro-ecológicos, tornou-se em território esquecido. Quer isto dizer que o abandono que resulta de uma distorção do direito à propriedade torna o território inacessível e com benefícios públicos incertos. Mas para que um terreno seja abandonado, é preciso que alguém o abandone e um contexto que o promova, o que nos leva inevitavelmente ao debate sobre como está organizado o território. Em Portugal, a vasta maioria da propriedade rústica (todas as áreas não urbanas) pertence a proprietários privados, ainda que não se conheça totalmente quem detém o quê devido à falta de cadastro. No caso específico das áreas florestais, apenas 3% da floresta é propriedade pública, a mais baixa percentagem da Europa (a média europeia é de 53,5%) e uma das mais baixas do mundo. Acresce ainda que cerca de 60% das propriedades rústicas estimam-se estar em nome de defuntos (sim, 60%!), o que torna a gestão do território uma tarefa impossível. Tudo isto, com a complacência de um enquadramento legal desadequado e obsoleto e de um poder político míope. Estas estatísticas, sobretudo em contextos de elevados níveis de abandono do território, são um indício inegável da falta de gestão democrática das paisagens. Como podemos construir as paisagens do futuro quando o passado, que deveria servir de bússola, funciona como âncora? Quão democráticas podem ser as paisagens quando estão limitadas pela (in)decisão de proprietários ausentes? Paisagens entregues ao esquecimento e sem vozes que defendam os seus valores tornam-se vulneráveis perante qualquer desafio que se apresente, das alterações climáticas e demográficas às crises financeiras e geopolíticas. Mais ainda, tornam-se vulneráveis perante o outro lado do espectro de interesse do território.
Não havendo um reconhecimento e promoção dos valores das paisagens, as soluções oportunistas aparecem como tábua de salvação. O crescente domínio das paisagens por modelos extrativistas, embora se apresentem com promessas de oportunidades e geração de riqueza para as comunidades locais, apenas reforça as relações de poder já desequilibradas. Estes modelos super-intensivos fazem uso dos recursos do território (em grande medida bens públicos – a biodiversidade, a água e o carbono armazenado no solo e nas árvores) para benefício exclusivo e, frequentemente, com graves custos para as comunidades locais. Beneficiando da minúscula propriedade pública com pouca ou nenhuma capacidade de influenciar os mecanismos de mercado, o domínio e expansão ininterrupta destes modelos tem-se proliferado e afirmado por todo o território nacional. E para que não faltem exemplos, a lista é extensa e familiar – a expansão incontrolável das monoculturas florestais de eucalipto, as concessões para exploração de lítio, os empreendimentos turísticos no litoral alentejano, as plantações de olivais e pomares intensivos, os parques fotovoltaicos para produção de energia renovável, os data centres e tantas outras iterações que a seu tempo aparecerão. Todos estes modelos seguem a lógica de produzir o que é lucrativo em detrimento do que é necessário para a qualidade de vida das populações e para o restauro dos ecossistemas. Ainda que em alguns casos estas duas condições se sobreponham (a produção de energia renovável é um bom exemplo), são implementados sem que a sua utilidade, os seus benefícios públicos ou os seus limites de expansão sejam verdadeiramente discutidos. Nem a fiscalização – e em muitos casos – nem os estatutos legais de proteção de áreas importantes do território – Rede Ecológica Nacional (REN), Rede Agrícola Nacional (RAN), Rede Nacional de Áreas Protegidas ou até mesmo designações internacionais – se verificam suficientes para conter o ímpeto lucrativo. Transformam-se paisagens diversas em paisagens de sacrifício, frequentemente contra as vontades das populações e até de instituições democráticas, sem que estas tenham grande influência nas decisões que implicam os territórios de que dependem. Estes modelos meramente utilitários, especialmente quando implementados de forma imperialista, esvaziam valores e identidades, deixando um rasto de consequências sociais e ecológicas.
Com todos estes desequilíbrios e fragilidades flagrantes, há dois caminhos que se apresentam – a resignação com territórios cada vez mais polarizados, inacessíveis, monofuncionais e inertes ou a construção de novas realidades centradas na diversidade e na cooperação onde a prosperidade coletiva é inegociável. Tal como nós herdámos paisagens forjadas pelo esforço dos nossos antepassados (com tudo o que de bom e mau foi feito), também nós temos responsabilidade com o que deixaremos às gerações futuras. E por isso, uma gestão das paisagens que promova a autonomia dos territórios e uma maior justiça social e ambiental é um imperativo moral. Afinal, as paisagens são uma construção coletiva e cumprem melhor o seu propósito quando incorporam processos mais democráticos onde múltiplas vozes têm espaço para participar e influenciar o futuro do território.
Para que tal transição aconteça, é essencial uma gestão mais equitativa do território, por exemplo, pelo aumento da propriedade pública com capacidade de influenciar o que se produz à escala da paisagem, isto é, produzir mais do que é útil e necessário (os vários serviços de ecossistema) e menos do que oferece um lucro imediato para tão poucos (produtos com valor de mercado mas com elevados custos ambientais, sociais e até económicos). Mas não se trata apenas de bons princípios de gestão. Este processo não se completa sem uma participação pública ativa e inclusiva, seja através do envolvimento dos diferentes setores económicos, da comunidade científica e de organizações e coletividades, seja no espaço público com o debate de ideias. Com uma sociedade civil mais interventiva, cria-se espaço para surgirem novas soluções e oportunidades de gestão participada, por exemplo, pela expansão de processos consultivos e participativos onde as populações são co-criadoras de modelos de gestão. Ou ainda, por assembleias de paisagem ao nível municipal e intermunicipal onde os receios e anseios das populações são debatidos e traduzidos para os planos de gestão e apreendidos pelo poder político. A participação pública não é um artifício decorativo e se incentivada com criatividade e propósito, pode alavancar o sentimento de pertença com as paisagens que queremos construir para o futuro. Na verdade, democratizar as paisagens é um reencontro com as ligações ao território, onde o envolvimento da sociedade civil ganha protagonismo e se equilibram as relações de poder com as necessidades das populações e dos ecossistemas.
Se a paisagem é o resultado da cultura que se imprime no território, então as paisagens são um aspeto identitário. Estes sistemas sócio-ecológicos constroem-se pela intimidade com o território, pelo engenho coletivo, pelos compromissos dialogantes e de acordo com os ciclos e valores naturais. A democratização das paisagens não é um certificado de mérito, mas um caminho com avanços e recuos. No fundo, é uma oportunidade de redescobrir a nossa identidade cultural e vislumbrar paisagens mais biodiversas, justas e prósperas.
Guilherme Castro, ecológo e doutorando na Universidade de Londres e nos Kew Gardens. Investiga soluções para tornar as paisagens espaços diversos e multifuncionais. Percorre distâncias incompreensíveis para conhecer árvores gigantes.

.jpg)