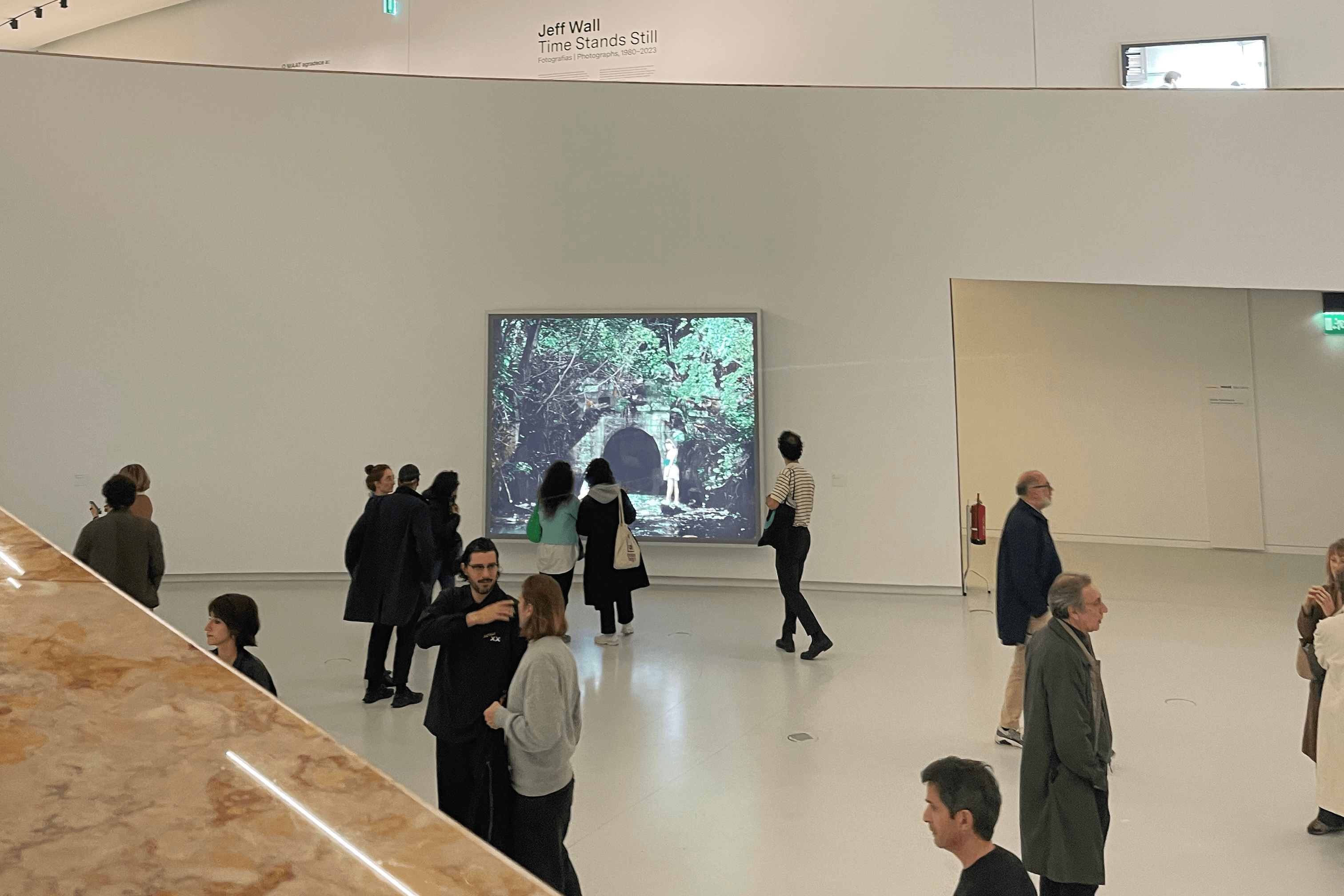Paul Ricoeur introduz o livro Memória, história, esquecimento com a seguinte frase: «A fenomenologia da memória aqui proposta estrutura-se em torno de duas perguntas: De que há lembrança? De quem é a memória?».1
Estas questões foram também colocadas por outros teóricos e artistas, por exemplo, na publicação Lost in the Archives2, publicada pela Alphabet City, sendo uma coleção de 800 páginas de textos sob as categorias de contabilidade, coleções, mnemotécnica, testamentos, itinerários e rasuras. Incluía ensaios de um grande número de autores, entrevistas, bem como numerosas descrições e discussões de obras de arte. A seguinte descrição do objetivo do livro foi incluída como epígrafe:
Há uma crise nos arquivos. O mundo contemporâneo exige que sejam arquivadas e acedidas quantidades cada vez maiores de material, o que apresenta possibilidades e problemas sem precedentes para a produção, armazenamento e utilização do conhecimento. Com este contexto em vista, Lost in the Archives explora o potencial produtivo das falhas da memória – as suas desistências técnicas, omissões, enterros, eclipses e negações. Investigações sobre os limites da memória são apresentadas por mais de setenta artistas e escritores. (s/p)
Boris Groys teoriza sobre isto no livro Arte em Fluxo, declarando que, nas décadas recentes, a internet tornou-se num dos principais espaços de produção e distribuição de textos, literatura, práticas artísticas e, de uma forma mais geral, arquivos culturais.3 A arte é apresentada na internet como um género específico de realidade – como um processo em curso, um processo vivo que acontece no mundo real e offline –, tornando a documentação em algo crucial. O aparecimento da documentação da arte precedeu o surgimento da Internet como um meio da arte, mas só a introdução da Internet ofereceu a esta categoria de documentação o seu lugar legítimo. A Internet permite ao autor – escritor ou artista – tornar a sua arte acessível a um público vasto e, simultaneamente, criar um arquivo pessoal da sua arte. Groys4 afirma que o impulso utópico tem sempre que ver com o desejo do sujeito de romper com a identidade historicamente definida, de deixar o seu lugar na taxonomia histórica; o arquivo, de certa forma, dá ao sujeito a esperança de sobreviver à sua própria contemporaneidade e de revelar um verdadeiro eu no futuro, já que o mesmo promete manter e tornar acessíveis os textos e as obras de arte do sujeito após a morte.
Roelstraete, curador formado em filosofia, afirma ter identificado uma tendência na arte recente em que os artistas «(...) se envolvem não só na narração de estórias, mas mais especificamente na narração histórica (...)»5 e, neste modo retrospetivo e historiográfico, Roelstraete incluiu o relato histórico, o arquivo, o documento, o ato de escavar e desenterrar, o memorial, a arte da reconstrução e da reconstituição, e o testemunho.
Para os artistas, as noções de deixar o seu lugar – a sua marca – na história, mas preservar a sua identidade – o seu estilo – e transpô-la de forma bem sucedida para um espaço expositivo – offline ou online –, onde uma audiência poderá apreciá-la e explorá-la, têm carregado cada vez mais peso e, consequentemente, trazido abismos artísticos para a era contemporânea.
Um artista, ao ter um próprio estilo, pode ser sintetizado a determinado idioma no qual este emprega as suas formas de arte, fazendo com que, por exemplo, um dos propósitos do estilo – ou seja, uma especificação mais individual do artista – vá ao encontro de uma finalidade destacada por autores como Coleridge e Valéry e relacionada com a memória da arte: a de preservar as obras mentais do esquecimento. O estilo, assim, torna-se um instrumento da preservação da memória, colmatando necessidades artísticas observadas nas últimas décadas. Tal como Valéry refere «a forma de uma obra é o somatório das suas características percetíveis, cuja ação física exige reconhecimento e tende a resistir a todas essas causas variadas de dissolução que ameaçam as expressões do pensamento, sejam elas a desatenção, o esquecimento ou mesmo as objeções que se lhe possam suscitar no espírito».6
A ideia de se ter um estilo é uma das soluções construídas descontinuamente desde o Renascimento, para as crises que têm amedrontado antigas ideias de verdade, de integridade moral e de naturalidade. Na cultura moderna, a noção de uma arte destituída de estilo é uma das mais persistentes extravagâncias, havendo uma ideia fantasiosa de que um artista possui verdadeiramente a opção de ter ou não um estilo. No entanto, não existem obras de arte desprovidas do mesmo, só obras de arte que têm o seu lugar em tradições e convenções estilísticas diferentes, possuindo um significado objetivo e histórico.
Sempre que um movimento, discurso, comportamento ou objeto manifesta um dado desencaminhamento do modo mais franco, útil e desapiedado de se expressar e ter presença no mundo, é possível observá-lo como um estilo, existindo, ao mesmo tempo, como independente, autónomo e instrutivo. Isto não quer dizer que uma obra de arte crie um mundo inteiramente autorreferencial: as obras de arte registam o mundo real e o conhecimento que é adquirido por via da arte corresponde a uma experiência da forma ou estilo de conhecer uma coisa, ao invés do conhecimento propriamente dito dessa coisa (como um facto ou um juízo moral).
Considerando isto, a forma – traduzida no seu idioma artístico, o estilo – constitui um esboço para armazenar qualquer coisa nos sentidos, resultando num difusor para o processo entre a impressão sensorial imediata e a memória (quer individual quer cultural). Todo e qualquer estilo fundamenta uma decisão epistemológica, uma interpretação de como e do que é percecionado – algo fácil de ver através da autoconsciência do campo das artes contemporâneas, sendo este papel mnemónico a explicação do porquê de cada estilo depender de razões repetitivas ou redundantes, desenvolvendo de forma mais complexa as dificuldades neste mesmo campo.
Atualmente, os estilos já não progridem lentamente, nem se sucedem uns aos outros gradualmente ao longo de extensos períodos ao ponto de possibilitarem ao público de arte absorver de forma completa os princípios de repetição nos quais uma obra de arte se estabelece. Até pelo contrário: os estilos sucedem-se tão rapidamente que não dão espaço para este público se preparar e respirar, contribuindo para que uma obra de arte passe a ser quase impercetível – sem haver perceção da repetição que o próprio estilo necessita – e, de forma simultânea e consequente, ininteligível.
Qualquer estilo é uma forma de insistir em dada coisa. Ao focar a atenção em algo, as decisões estilísticas expressam também um afunilamento desta mesma atenção, uma renúncia em permitir ver outras. Um maior interesse de uma obra de arte em relação a outra reside exatamente na intensidade e perspicácia que a mesma expõe, por muito limitado que seja o seu foco. No sentido mais literal, todos os conteúdos são indescritíveis; as mais descomplicadas sensações são inefáveis e, por isso, todas as obras de arte necessitam de serem compreendidas não só como uma coisa representada, mas também como tratamento específico concebido para o inefável.
Walter Benjamin ao mencionar a aura da obra de arte tradicional e única, reconhece na mesma uma experiência próxima e ponderada, lenta e remota, que transporta uma profundidade vinculada à sua origem de único. É possível perceber que a aura de uma obra está diretamente relacionada com o estilo incutido na mesma. A partir da aura da obra de arte tradicional, o autor formula um valor de culto, opondo ao valor expositivo da obra de arte na era da reprodutibilidade, que se firma ao se distanciar do mundo quotidiano: «De facto, a inacessibilidade é uma qualidade primordial da imagem de culto. Pela sua natureza, mantém-se longe, por mais próxima que esteja. A proximidade propiciada pela sua matéria não afecta a lonjura que mantém depois da sua manifestação».7 Esta noção, ainda ligada a uma ideia de arte fundamentada no valor e exceção da obra de arte, tem a possibilidade de se amplificar para além da obra de arte única, como assinalamento que o lugar da arte estabelece com o objeto de arte. É por trás da ambivalência e do peso dado ao estilo – e, consequentemente, à aura – que se encontra o alvoroço ocidental entre arte e moralidade, entre estética e ética.
Num ensaio de 19368, Martim Heidegger reflete sobre a instalação ou erguer (Aufstellen) da obra, instituindo-lhe uma origem comum à do sagrado. Ao se edificar um templo, segrega-se um espaço-outro, estabelecendo-se um local sagrado em relação ao quotidiano, onde tanto o religioso como o artístico se expõem em recíproca origem. Em obra, o que está presente expõe-se por um outro de si, falando de si para além de si. Assim, apresentar algo num espaço de arte é já colocar uma expectativa especial nesse algo, onde o que se põe escapa à assimilação quotidiana, onde se cativa a atenção sobre o que está presente, para se envolver numa dimensão de rejeição da instrumentalização. Quando uma obra parece justa, inconcebível de outra forma (sem nenhuma perda ou dano) significa que o que está a ser reagido é à qualidade de um estilo e ao espaço em que a mesma se integra, sendo as obras de arte mais aliciantes as que dão a ilusão de que o artista não dispunha de mais nenhuma alternativa artística.
O lugar da arte dá ênfase ao que está em presença, torna ritual todas as ações relacionais, resultando numa exposição da obra que vai além de uma simples eficácia do signo, excedendo-se. Na área filosófico-estética, em oposição à filosofia tradicional do Belo que fazia com que a obra de arte se tornasse refém de uma verdade prévia, a arte encaminhou-se cada vez mais para um percurso como ferramenta privilegiada para o resultado da verdade. A reclusão da obra a sistemas hermenêuticos, a resistência a ser subjugada pela linguagem, poderá ser um meio de compreender a dimensão de abertura da mesma; é este fechamento entre o voltar da obra a um significado estável e a provocação à interpretação que pede o abismo de uma abertura.
Um modo de distanciação é estabelecido aquando da existência de um lugar de diferença promovido – na dinâmica entre a aura que emanam e o lugar que os sagra – pelos objetos.
Esta ideia de distanciação (e de desumanização) só não se revela impostora se for acrescentado que o movimento não é apenas para longe do mundo, mas também em direção a este. O que se sagra adquire uma aura que ainda não possui enquanto signo, deslocando a referencialidade ou tematização a outro nível do seu entendimento. No chamamento de atenção sobre si e sobre o algo que representa/expõe a arte rejeita a instrumentalização, expandido outra categoria do desejo de entendimento; compreende-se assim o potencial do mundo da arte para explorar – interrogando – as coisas transportadas à sua presença. Esta questão torna-se ainda insistente se for posto em consideração que a arte contemporânea, sobretudo a partir dos finais da década de 1950 do século XX, já não tem tanto a preocupação de produzir novos objetos, mas de reinstalar objetos já existentes no mundo da arte, onde estes despertam novos sentidos.
O desenvolvimento da hermenêutica, a escoltar o desgaste e um nível de fracasso do estruturalismo semiótico, recentraliza o posicionamento histórico do indivíduo e, consequentemente, a mobilidade do sentido a conduzir a atualidade da interpretação.
Assim, a obra dá abertura a um mundo: ao apelar a atenção sobre si, ao suspender-se a si e ao que expõe, é transportada uma maneira de apelar ao Ser, como declararia Heidegger, uma confinidade com a clareira, que passa por lugar de «abrigo libertador» do Ser como o «o livre do retirar-se do ocultante».9
O intento da arte não é o de trabalhar como auxiliar da verdade, seja esta particular e histórica ou eterna, algo que Robbe-Grillet refere quando afirma que «se a arte for alguma coisa, então é tudo; e, nesse caso, deverá ser autossuficiente, pelo que não poderá haver nada para além dela».10 Porém, esta posição é facilmente caricaturada, já que o sujeito habita o mundo e é nesse mesmo mundo que os objetos de arte são produzidos e, posteriormente, apreciados.
A defesa feita em torno da autonomia da obra de arte – a sua própria liberdade para não significar nada – não faz com não se tenha de ter em consideração o efeito, o impacto ou a função da arte, desde que se reconheça que, nesse comportamento do objeto artístico enquanto objeto artístico, não faz sentido haver uma separação entre o que é estético e o que é ético. O raciocínio contemporâneo apenas ficará completo quando for possível pensar em estilo e aura sem esse espetro ser renegado, sem uma sensação de perda. Tudo isto remete para a famosa afirmação de Nietzsche em Twilight of the Idols: «Para que exista arte, para que exista qualquer atividade e observação estética, um pré-requisito fisiológico é indispensável: a intoxicação.»11
Inês Ariana Pita, 27 anos, é pós-graduada em Design e Cultura Visual e mestranda em Crítica e Curadoria de Arte com especialidade em História da Arte. Investiga o papel do arquivo na memória tanto histórica, como artística. Conhecida por ser uma leitora ávida de policiais nórdicos.