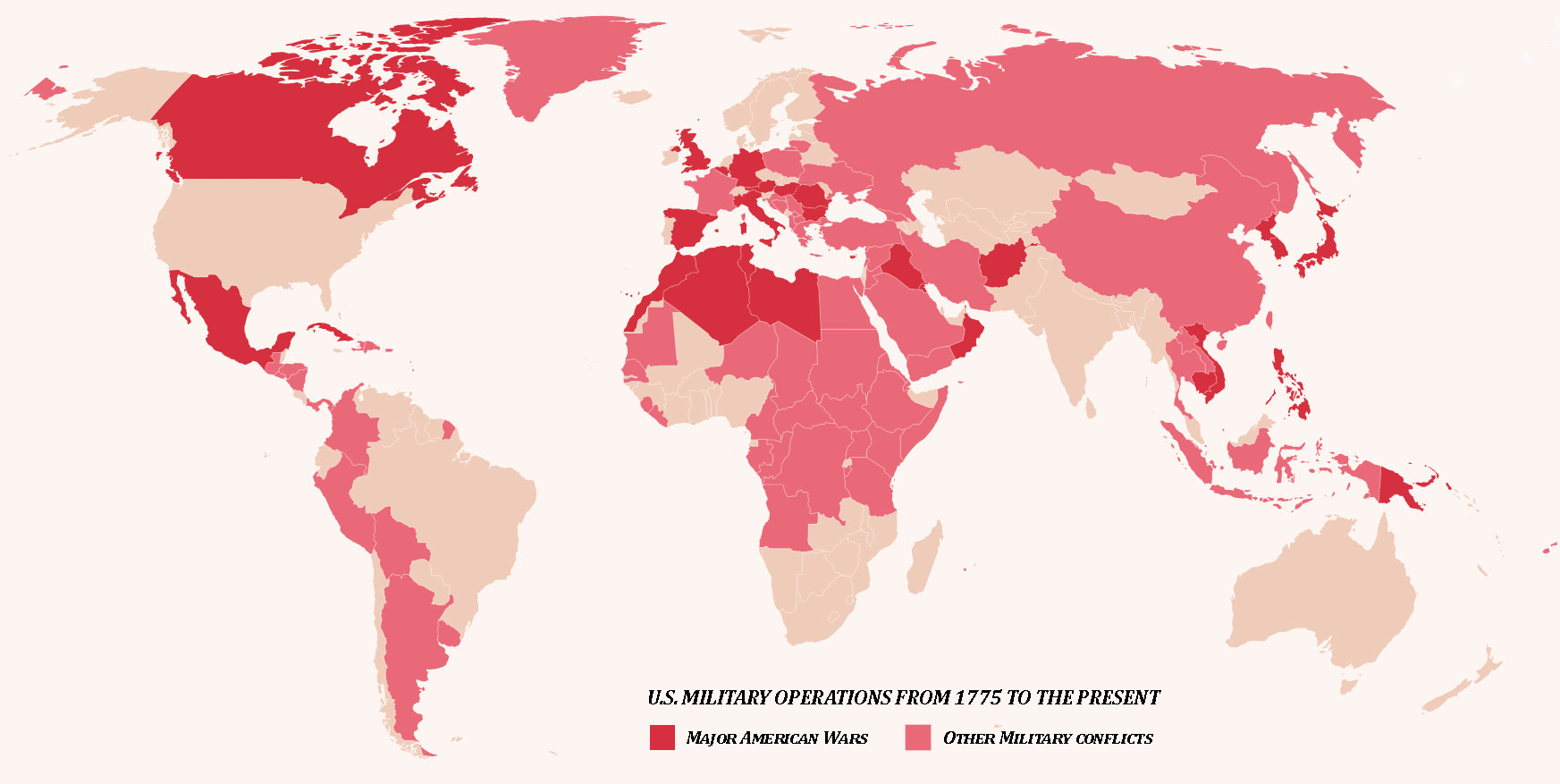Fui a Nápoles com uns amigos e o meu coração ficou por lá. Foi o destino mais caoticamente belo que visitei até hoje. Um caos que faz sentido, um caos que se auto legitima pelas ruas e vielas da cidade, no gesticular frenético e genuíno dos napolitanos, um caos que não sendo «culturalmente intrínseco» – não enveredemos por essencialismos bacocos e estereotipados –, compõe em grande medida a «identidade» de Nápoles. Devo dizer que também foi por aí que me identifiquei com ela: não gosto de fretes, formalismos minudentes ou conversa fiada… e os napolitanos tampouco.
Desde o dia 7 de julho, quando regressei a Portugal, sinto que pertenço mais a Nápoles do que a Lisboa. A «identidade» escora-se precisamente na constante reconfiguração das mediações e articulações histórico-sociais que geram a «identificação»; é um processo dialético, pouco ou nada estanque (ser sportinguista é a exceção que confirma a regra, essa sempre incólume). Quando Diego Armando Maradona chegou a Nápoles, em 1984, para jogar na Società Sportiva Calcio Napoli, deverá ter pressentido isso mesmo – se me é permitida a equiparação implícita. Admito: fui a Nápoles, principalmente, porque quis ver e sentir a cidade que abraçou o D10S como um Deus. Maradona personificava o caos… o tal caos que faz sentido e que ele humanizava com a bola nos pés. Maradona personificava igualmente o abandono do «centro» face às «periferias», ao qual o sul italiano fora remetido à época, até aos tempos correntes. Maradona era (e é) a subalternidade e o «meridionalismo» consubstanciados, o «intelectual orgânico» que despertou uma «identidade fraca» que extrapolou as fronteiras do futebol: com a sua chegada, o Napoli – que se digladiava com os poderosos e endinheirados clubes do norte, numa contenda historicamente desproporcional - foi duas vezes campeão nacional de Itália, faceta nunca alcançada pelo clube até 1987. Em suma, no decurso dos sete anos que por ali permaneceu fisicamente, Maradona inverteu os princípios básicos da orientação geográfica e o sul italiano pôs-se à cabeça do país.
Tudo isto foi por mim constatado durante os quatro dias de viagem. No primeiro, ao chegarmos ao apartamento onde íamos ficar, deparámo-nos com um bar que era contíguo ao edifício das pernoitas. Tentaram-nos a ficar por ali, a desfrutar do centro napolitano: «sentem-se e bebam um aperol!», bradaram. Não nos convenceram, pois tínhamos acabado de fazer mais de metade da Spaccanapoli – uma das principais ruas da cidade, que a divide ao meio - a pé, com as bagagens. Queríamos banho e descanso. Não obstante, mais atrás, junto à esplanada, encontrava-se um rapaz de pé, encostado à parede, bebericando o seu aperol spritz – napolitano de gema. «São de onde?», perguntou-nos. «De Portugal… viemos ver o Maradona», respondi-lhe. O rapaz, meio incrédulo, fez-nos uma cara que transpunha graça e suspeita... «olha, olha… querem entrosar-se rapidamente comigo e com a minha cidade», deve ter pensado. Qual não foi o seu espanto quando, de repente, lhe mostro a minha tatuagem dedicada a Diego, um «10», junto ao pé esquerdo, com o formato do número que este envergou na camisola da seleção nacional da Argentina no Mundial de 1986, que a mesma acabaria por conquistar. Desfeitas as desconfianças, disse-me genuinamente, constatei eu pelas palavras proferidas e pelos olhos que me fixavam: «estou emocionado». De facto, estava. Não fosse o cansaço combinado com o peso das malas e teria ficado com ele, por ali, a beber um aperol e a fumar cigarros, conversando sobre o que verdadeiramente interessava conversar naquele sítio: Diego Armando Maradona.
Excelente presságio para o resto da estada. Na verdade, quando estava a subir a Spaccanapoli com o Tomás, ao encontro do Lima e da Carolina, que já se encontravam instalados no apartamento, deparei-me logo com uma cidade que mais não é que um santuário a céu aberto, dedicado aos gestos maradonianos. Em cada esquina, em cada bar, em cada parede, uma imagem do Santo… de San Gennaro, padroeiro da cidade, pouco ou nada vi. Os italianos têm fama pelo seu catolicismo acicatado e conservador… em Nápoles, ainda que repleta de templos católicos, cruzes e cachecóis cumpriam a mesma função: a exteriorização da fé que transcende a materialidade. Cristo nos terços, Maradona e a Società Sportiva Calcio Napoli nas bandeiras... assim vão resistindo certos rituais nos tempos hodiernos. Sobre o primeiro dia, estamos falados. Ah, também fomos à L'Antica Pizzeria da Michele comer uma margherita. Pelo que me apercebi, jantámos na mais famosa pizzaria do mundo, ou lá o que é.
Segundo dia: Quartieri Spagnoli. Belíssimo. Disseram-me que a «verdadeira Itália», típica e tradicional, estava ainda conservada naquele bairro, patente na arquitetura dos prédios e nas gentes que os habitavam. Não estava minimamente preocupado em elaborar análises comparativas ou em desfazer mitos. O único mito que me interessava (perpetuar) envergava o número «10» em campo e, fora das quatro linhas, corporizava o «mais humano dos Deuses». No âmago do Quartieri Spagnoli, lá estava ele: o largo Diego Armando Maradona. Era o que me bastava. Se me pedissem uma síntese da síntese de Nápoles, aí estava ela. À esquerda, na parede de um prédio, a famosa pintura imponente de Maradona, em que a sua face repousa numa janela que só abre quando o Napoli é campeão italiano – naquele dia, estava aberta. Em baixo, um altar em sua homenagem, com diversos cachecóis, de diversos clubes, alguns deles italianos. No centro daquele, uma foto luminosa de Maradona com uma coroa de espinhos: «carga una cruz en los hombros por ser el mejor // por no venderse jamás, al poder enfrentó // curiosa debilidad, si Jesús tropezó // ¿por qué él no habría de hacerlo?», cantava Rodrigo Bueno em homenagem a Diego. Ateus, ou melhor dito, adeptos da Juventus, nem vê-los. À direita do largo, um enorme Maradona com uma bola colada à cabeça e paredes adornadas com murais que lhe eram dedicados. Ao sair dali, confidenciei ao Tomás, também ele maradoniano dos sete costados, que teria ficado por ali o dia todo, a contemplar a transcendência que aquele Olimpo emanava. Na minha mente, naquele dia, o sul de Itália não voltaria mais a ser a cabeça do país, mas o centro do universo. Logo após, fomos almoçar uma pizza frita, saímos do bairro, passeámos pela zona da cidade mais «turística», fomos a casa, jantámos, bebemos um copo e fomos dormir. Nem me lembro bem do que vimos e do que fizemos a seguir ao almoço, mas sei com o que sonhei nessa noite.
Terceiro dia: praia em Sorrento. Devo confessar que odeio «fazer» praia. Mas soube-me bem, pelo calor abrasador que tínhamos sentido nos últimos dois dias. Reservámos o dia apenas para descansar. O sítio era lindo, a água estava ótima e a companhia sobreponha-se a tudo isso. O Tomás, o Lima e a Carolina são maravilhosos. Todavia, o meu cérebro não estava ali... tinha saudades de Nápoles. Uma saudade tão aguda que me senti mais napolitano que outra coisa qualquer (mas sempre sportinguista, evidentemente). Na verdade, sentia falta da cidade que acolheu Diego. Uma e outro confundem-se, são a mesma entidade. Maradona desfrutou a vida fora dos relvados – diga-se, para alguns, excessivamente. O cerne da questão é que ele não o escondia, não o escamoteava, não tentava adocicar a imagem mediática que (não) conservava. Ele era erro, ele era excesso, ele era humano. Pensei que também me podia dar ao luxo de o ser nesse dia, refastelado na minha espreguiçadeira, a fumar como um desalmado... nas palavras de Manu Chao, «si yo fuera Maradona, viviría como él». Tinha saudades da «minha» cidade e não me apetecia escondê-lo. Todavia, já no comboio de regresso a Nápoles, pensava somente na grande combinação daquele dia, que me fez suportar a areia entre os dedos dos pés e o sal marinho entranhado na face: amanhã voltaríamos ao centro do mundo, ao Quartieri Spagnoli, ao largo Diego Armando Maradona.
Último dia: acordámos cedo. Queríamos aproveitar o (desa)tempo que restava. A contrastar com o calor sufocante que tínhamos sentido até então, choveu e trovejou bastante durante uma hora, naquela manhã. Era Nápoles a despedir-se de nós (perdoem-me o cliché pequeno-burguês-pseudo-romântico). Pelas 10 horas, de novo aquele sol, quase acolhedor e a roçar o suportável. E lá estávamos nós, ao início da tarde – o que fizemos entretanto? –, de volta ao coração de tudo, do Tudo. Lá estava ela, a janela que abre apenas quando o Napoli ganha o Scudetto. Costumo dizer, em jeito gramsciano, que se queremos avaliar o «centro», a perspetiva «periférica» configura o melhor posicionamento para tal: observamos criticamente o primeiro, criticamente conscientes da posição que ocupamos na segunda. Podemos até provir do «centro», mas essa «deslocação» (ou, porque não dizê-lo?, essa «identificação»...) para a «periferia» é essencial num âmbito crítico-analítico que, à partida, almejamos o mais abrangente possível. O «centro» que se avalia a si próprio, fechado sobre si mesmo, desembocará inevitavelmente em elitismo pedante, em positivismo reacionário. Com efeito, aquela janela parecia oferecer a melhor posição de todas: dela veríamos Amílcar Cabral, Fidel Castro ou a Palestina, na sua plenitude «marginal», de resistência heróica contra os «centros» dominantes. E lá estava ele, sorridente e rebelde, periférico em toda a linha. Tirei-lhe fotografias e senti-me a incorrer em blasfémia, por aparecer em algumas delas, tendo-O por horizonte. Disparate... Ele seria o seu próprio e primeiro blasfemador. De resto, em termos maradonianos, a blasfémia, ou melhor dito, o «erro» lato sensu, não constitui nem representa uma anomalia, mas sim uma virtude – quando exteriorizado –, intrínseca ao ser. «Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha»: a famosa declaração de Maradona, enunciada quando abandonou os relvados, materializa esse ethos particular. Queria ter permanecido ali – alheio ao tempo e envolvido pelo espaço –, mas havia um avião para apanhar. Assim terminava a nossa peregrinação a Nápoles, no ano V d.D. (depois de Diego).
Não somos de lado nenhum, apenas do sítio em que queremos estar. Só volta quem alguma vez chegou a partir. De regresso a Lisboa, sítio, ao que consta, em que nasci (e resido, mas não sei se ainda «vivo»), quando me questionavam como tinha corrido a viagem, se tinha gostado, apenas retorquia: «vi o Maradona e o meu coração ficou em Nápoles». À minha mãe respondi como reza (o verbo é esse mesmo) umas das muitas canções que os adeptos devotos ao Napoli continuam a oferecer a Diego:
Oh mamma, mamma, mamma,
oh mamma mamma, mamma,
¿sai perché mi batte il corazón?
Ho visto Maradona, ho visto Maradona,
eh, mamma, innamorato son.

.jpg)