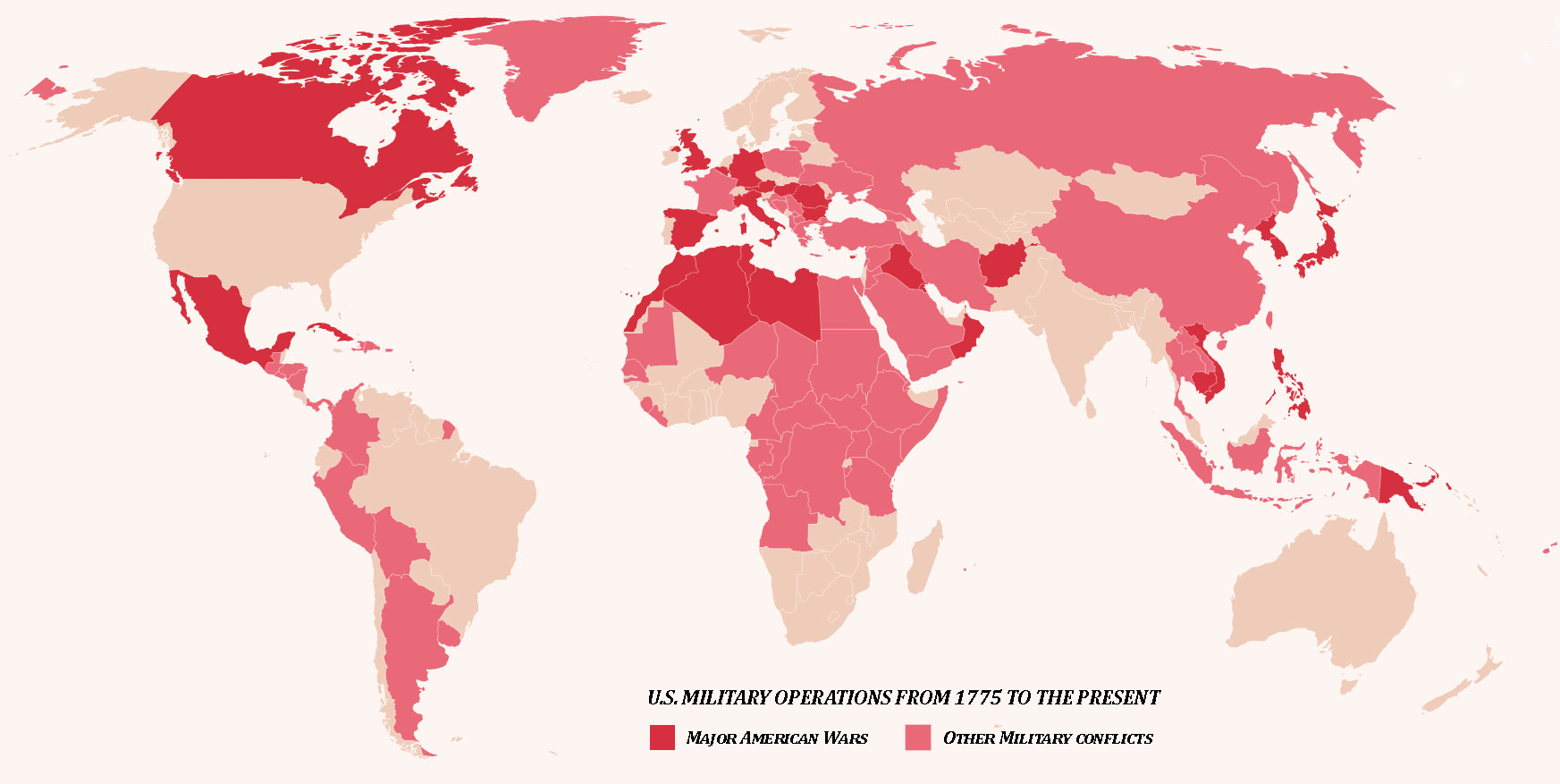A memória de um passado traumático tende a ser um elemento patrimonial de extrema fragilidade. Como entende Enzo Traverso, podemos classificar as memórias atendendo à sua «força»: por um lado, as Memórias Fortes são «aquelas que fazem parte da narrativa oficial» adotada pelos Estados, e o seu oposto, as Memórias Fracas constituem o imaginário dos subalternos e são, na sua grande maioria, «memórias interditas» (Traverso 2020); ou seja, a sobrevivência de uma memória depende inerentemente também da força de quem a detém e que dela faz uso.
O desenvolvimento no campo académico dos Estudos da Memória permitiu um ampliamento do debate sobre estes passados traumáticos e as Heranças Difíceis – seguindo o termo desenvolvido por Sharon Macdonald, definem-se como sendo elementos de um passado que é assumido como significante no presente, mas que também é contestado e constrangedor, cujo reconhecimento é fundamental para uma reconciliação pública com uma identidade contemporânea positiva e auto afirmativa (Macdonald 2009) –, contribuindo para o desenterrar de problemáticas e memórias outrora abafadas/enfraquecidas e a adoção de políticas que contribuam para a reconciliação com este passado.
Uma das vias que os Estados seguem para tentar recuperar de passados traumáticos é através da adoção de políticas de Justiça Transicional. O conceito pode ser definido como «uma concepção de justiça associada com períodos de mudança política, caracterizada pela resposta legal na confrontação das irregularidades dos regimes repressores anteriores» (Teitel APUD Vasconcelos 2009). No fundo, traduz-se na aplicação de medidas que vão no sentido de cicatrizar feridas abertas causadas por um passado recente com o qual se procura fazer as pazes. Auxiliando os Estados a concretizar uma «reparação histórica» dos crimes cometidos nesse passado, essas políticas poderão se manifestar em vários eixos de ação e de diversas formas – o eixo cultural e artístico, por exemplo, estabelecendo a cultura e as Artes como vinculadoras de mensagens e ideias que têm como objetivo consciencializar o público sobre estas Heranças Difíceis. Neste sentido, o papel de mediador poderá ser desempenhado por uma instituição museológica, através da conceção de Museus de Memória empenhados na salvaguarda do património imaterial e de testemunhos.
O nascimento do Museu de Memória deve-se à necessidade de criar um espaço cujo objetivo principal é o de recordar o trauma sofrido por quem procura reconciliar-se com o seu passado ou recuperar do trauma pelo qual passaram. Na sua génese, é um espaço dedicado a relembrar o passado projetando um legado futuro, onde a memória da atrocidade é parte integral do seu conteúdo, que se compromete a debater estas questões no presente e a preservar o sítio que ocupa, reconhecendo que o espaço público é um testemunho real de passadas violações dos Direitos Humanos (Black 2011), almejando nele inscrever as memórias de resistência a passados ditatoriais.
A nível nacional conhecem-se dois casos emblemáticos onde a Memória da Resistência ao Estado Novo está representada: os do Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, em Lisboa, e do Museu Nacional Resistência e Liberdade, na Fortaleza de Peniche. A sua génese advém de manifestações populares e de pressão exercida pela franja da sociedade civil que tinha algum tipo de relação com os presos políticos portugueses ou com a resistência antifascista em si, em defesa da preservação da memória destas pessoas e do próprio espaço. A dimensão e mediatização destas manifestações foi tal que contribuíram para a redação de um Decreto-Lei onde se expressa o que fora aprovado na Assembleia da República com a Resolução n.º24/20081, ditando, entre outras coisas, que se criem «condições efetivas, incluindo financeiras, que tornem possível a concretização dos projetos das autarquias e da sociedade civil, nas suas variadas formas de organização», referindo-se aos projetos para os museus do Aljube e da Fortaleza de Peniche.
No Estado espanhol, pelo contrário, não existe um espaço museológico cujo discurso aborda a resistência ao Franquismo e a luta do povo espanhol contra a repressão que sofreram. Existe, por um lado, um empenho legislativo para preservar a memória da resistência antifranquista e auxiliar as vítimas e os seus familiares – com a elaboração da Ley de Memória Histórica, em 20072, e da Ley de Memória Democrática, de 20223 –, o que idealmente ditaria a criação e o desenvolvimento de uma conjuntura favorável à implementação de políticas públicas de cariz cultural e social que ampliassem o debate sobre os efeitos e consequências atuais da repressão franquista, no entanto, não houve ainda uma materialização museológica dessas iniciativas legislativas.
Esta reflexão leva-me a colocar algumas questões: primeiro, poderá este ser um resultado de uma transição democrática que não estabeleceu uma ruptura com o saudosismo franquista, ou um sintoma do parco desenvolvimento e aplicação de políticas públicas de memória? Em segundo lugar, porque não tem o Estado espanhol um Museu de Memória da Resistência ao seu fascismo, como tem Portugal? A proximidade geográfica em muito contribuiria para a adoção de políticas públicas de memória pelos dois Estados nas quais estivesse contemplada a construção de um espaço museológico onde o diálogo sobre o tempo das ditaduras na Europa do século XX é um dos eixos principais. Por serem nações que partilham um passado ditatorial, pensar-se-ia que o discurso sobre o fascismo de que são herdeiros e a forma de olhar para este passado fosse, de um modo geral, semelhante. Acontece que não o é, e que a visão destes dois Estados sobre esta questão em muito são diferentes.
Para responder, é importante recordar que o Estado espanhol não viu um rompimento total com o regime fascista. Ao contrário do que aconteceu com a Revolução Portuguesa de 1974, o fim do regime de Franco foi ditado legislativamente após a sua morte em 1975, com a restituição de uma monarquia constitucional. Foi assim agarrada a oportunidade para regressar a esse regime, o que demonstra a existência e persistência de um conservadorismo estatal nesta nação nossa vizinha. Portanto, na Península Ibérica temos, em tempos quase coincidentes, o virar de uma página em Portugal, com a instauração de uma democracia parlamentar seguida de uma Revolução, e no Estado espanhol um retrocesso governamental com o regresso da monarquia.
Com este retrocesso governamental, um dos objetivos finais do governo era estabelecer um perdão e promover o esquecimento dos crimes cometidos durante o período ditatorial, que foi conseguido através da Ley de Amnistía de 19774. A aplicação desta lei culminou no apagamento de parte da história de uma nação onde, passados agora 47 anos desde a sua implementação, milhares de cidadãos enfrentam uma batalha judicial para reverter e encontrar os corpos das vítimas, que se encontram enterrados em valas comuns e cuja localização ainda é desconhecida na maioria dos casos (Solana 2018, Fontes 2023).
Poderá esta conjuntura ditar o estado atual das políticas públicas de Memória no espaço ibérico e a forma de se olhar para este passado? E estará diretamente associado ao facto de não existir um Museu de Memória dedicado às vítimas e aos resistentes do Franquismo? Creio que sim, pois se não há uma visão consensual sobre o passado atroz, existindo uma disputa dessa memória entre o Estado espanhol, por um lado, e a parte da população que está diretamente ligada às vítimas e aos resistentes, apoiadas por associações, instituições e partidos políticos que querem que este seja um assunto da ordem do dia, não será fácil a aplicação e adoção de políticas que favoreçam os interesses dos segundos. Assim é que a permanência do fantasma franquista na sociedade e no governo, pautado pela existência no poder de ministros e outros ocupantes de cargos que fizeram parte do regime, impactou de tal forma o modo de fazer política do Estado espanhol que ainda hoje há um grande compromisso com o pacto de silêncio promovido pela Lei da Amnistia.
Fomentando a conversa sobre o que aconteceu durante o Franquismo e dando voz às famílias das vítimas e sobreviventes que lidam hoje com esse trauma, é possível normalizar o debate sobre este tema; mas importa também saber como isso deve ser feito. Surge então esta proposta sobre como se pode abordar os crimes do Franquismo – através da criação de um Museu de Memória dedicado às vítimas e resistentes do Franquismo.
Por muito que se fale das atrocidades do Franquismo, é necessária a compilação desta informação e conversar sobre esta parte da História, acompanhando-a do seu contexto. Se assim não for, o debate sobre este passado atroz poderá cair na insignificância e causar despreocupação na sociedade, que se sente cronologicamente distante destes acontecimentos, embora nos sejam tão temporalmente próximos. E esse agrupamento da informação e do seu contexto pode ser feito num espaço museológico, através da construção de um museu que homenageie as vítimas, fale sobre o passado, consciencialize quem o visita e previna acontecimentos semelhantes no futuro, contrariando a tendência do esquecimento e o enfraquecimento destas memórias (Traverso 2020) e a sua subalternização (Gramsci APUD Crehan 2004).
A proposta que apresento é a da criação de um Museu Ibérico que retrate a luta antifascista dos resistentes e das vítimas durante o Salazarismo e o Franquismo, colocando as experiências de passados traumáticos das duas nações em diálogo, desenvolvendo um elo de ligação e empatia entre os dois povos e o seu público visitante. Os objetivos deste Museu prendem-se sobretudo com a recuperação desta memória que se foi perdendo com o passar do tempo desde a vigência do pacto de silêncio; a preservação do património imaterial de ambos os Estados ibéricos relativo ao período que vai desde o início dos regimes ditatoriais até à década de 1980; a recolha de informação fornecida por testemunhos desse passado, a criação e o desenvolvimento de um acervo próprio e arquivo memorial com respectivas políticas de incorporação comprometidas com a missão e os objetivos do Museu; o desenvolvimento de uma estrutura de Serviço Educativo que se regerá pela adoção de «pedagogias da lembrança» (Kranz 2013), visando promover a reflexão crítica sobre eventos traumáticos e períodos de violência a fim de preservar a memória das vítimas e evitar a repetição de tais tragédias no futuro, trabalhando em parceria com universidades, centros de investigação e outras instituições culturais e museus ou organizações de cidadãos.
Há ainda uma questão final a colocar: pode um Museu ditar significativamente uma mudança nos discursos sobre o Franquismo? Seguramente dará origem a um debate mais aprofundado e abrangente no seio da sociedade espanhola, e não é um cenário utópico – a criação do Museu do Aljube, em Lisboa, trouxe para o centro do debate o tema da resistência ao Estado Novo e é um museu frequentemente visitado por cidadãos nacionais, turistas e sobretudo estudantes em visitas organizadas, que podem e devem usufruir dos serviços educativos do museu; atendendo aos entraves à criação destes espaços colocados pela conjuntura política e social do Estado espanhol, só a execução efetiva de um espaço museológico sobre a memória da resistência ao franquismo e o seu desenvolvimento por parte do Estado em conjunto com as comunidades que partilham esta herança e estão vinculadas a esta memória o dirá com certeza. Até lá, só é possível trazer este assunto e o seu debate para a ordem do dia.
«Nós que crescemos depois de Franco não sabemos o que aconteceu realmente; nas escolas nunca nos ensinaram; aos nossos pais nunca contaram e aos nossos filhos não podemos contar porque não o sabemos.» Esta frase retirada do documentário O Silêncio dos Outros (Carracedo 2018) demonstra bem os efeitos do recalcamento da memória da Guerra Civil e do regime de Franco, mas demonstra também o ressurgimento desta preocupação em questionar o que de facto aconteceu neste período. Importa também ressalvar a proliferação cada vez mais impune do discurso de ódio motivado pelo crescimento da extrema-direita (partidos como o CHEGA!, em Portugal, e o VOX, no Estado espanhol), que faz também crescer consequentemente a consciencialização da necessidade de preservar as memórias das vítimas e dos resistentes desta herança difícil. A meu ver, o Museu de Memória tem efetivamente o poder de relembrar este passado e de projetar esse legado para as gerações futuras, através de estratégias pedagógicas, interativas e multidisciplinares, capazes de difundir mensagens que vão no sentido de combater a discriminação, o discurso de ódio e ainda capazes de promover boas práticas de cidadania que permitam olhar para o passado e compreender a tragédia como herança, mas também como erros que não se desejam repetir.
Raquel Vitorino, 25 anos, é mestre em Museologia e Museografia pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. A sua investigação foca-se no estudo da Memória dos passados traumáticos e seus resistentes em Portugal e no Estado espanhol, e na sua musealização. É adepta de futebol, especialmente do Benfica e do Barcelona, e hater n.º1 do Chat GPT.
![[A MUSEALIZAÇÃO DA MEMÓRIA ANTIFASCISTA IBÉRICA É POSSÍVEL?]](https://cdn.prod.website-files.com/6783a91157c5ce7778d0ca56/686c25686ca8f9004663d5d2_WhatsApp%20Image%202024-01-31%20at%2012.54.34.jpeg)
.jpg)