«There is no better way to justify relations founded on violence, to make such relations seem moral.»
David Graeber 2011, 5
Muitas das manchetes noticiosas dos últimos meses me poderiam ter levado a escrever esta longa. Ricardo Leão que destrói habitações auto-construídas sem oferecer perspetivas decentes a quem lá vive; Luís Montenegro e o seu bando que pretendem tirar a nacionalidade a quem cá quer viver e trabalhar; Carlos Moedas que insiste numa insegurança que nenhum estudo comprova e clama por «lei e ordem»; André Ventura que partilha notícias falsas sobre imigrantes violadores e criminosos com milhares de partilhas; um mundo de governantes que encolhem os ombros ou aplaudem o genocídio do povo palestiniano; deputados de extrema-direita que incitam a polícia a disparar a matar mais vezes. A lista seria enorme e, certamente, deprimente.
Decidi escrever esta longa porque, no meio deste fluxo de notícias desastrosas, não consigo parar de pensar sobre a ideia de solidão. No meio de todas as informações estonteantes que nos chegam, não consigo evitar vislumbrar um projeto político concertado que assenta numa moral imoral, no combate à empatia e na promoção de um individualismo implacável. Ao mesmo tempo, semeia-se a solidão, a depressão, o ódio, a impotência e a desesperança.
Talvez a leitora mais atenta tenha já reparado na metáfora que procuro com este título. O conceito de «economia moral da multidão», com o qual aqui procuro jogar, foi formulado pelo historiador E. P. Thompson (num célebre artigo de 1971) para analisar revoltas populares, sobretudo «food riots» em Inglaterra, no século XVIII. Como explicou, estes motins eram despoletados por subida de preços da alimentação, pela fome ou por práticas enganosas de comerciantes e vendedores. Não obstante, E. P. Thompson aponta que: «these grievances operated within a popular consensus as to what were legitimate and what were illegitimate practices in marketing, milling, baking, etc. This in its turn was grounded upon a consistent traditional view of social norms and obligations, of the proper economic functions of several parties within the community, which, taken together, can be said to constitute the moral economy of the poor. An outrage to these moral assumptions, quite as much as actual deprivation;, was the usual occasion for direct action» (1971, 79). Ou seja, os levantamentos populares não se davam apenas devido à fome por si só, mas igualmente por causa de uma violação de uma visão partilhada de justiça social e económica. Nesse sentido, pode-se argumentar que existia o ímpeto de restaurar uma ordem moral vigente a partir da ação coletiva e com base em valores comunitários. Uso exatamente este título para o inverter e falar do período em que vivemos, do reinado do neoliberalismo e do desmembrar da ideia de uma economia que está associada a um dado conjunto de valores e direitos comunitários e dos próprios laços sociais que faziam com que tal fosse possível. É da imoralidade e da solidão que vos falo.
Neoliberalismo é uma enorme palavra. Ao longo dos anos, dezenas de estudiosos debateram acaloradamente o seu significado, o seu funcionamento e as suas consequências. Abordar este conceito leva qualquer investigador a uma arena de ideias contraditórias sobre poder, governo, economia política e capitalismo. Ademais, o neoliberalismo pode ser descrito a partir de muitas perspetivas, do Norte ou do Sul global, difere de país para país (Harvey 2007, 39) e foi-se remodelando ao longo das décadas (Brown 2015, 21). Aqui, não pretendo oferecer nenhuma abordagem alternativa sobre o conceito, apenas tentando esboçar algumas definições que me parecem relevantes para o debate político que enfrentamos. Procuro, então, apresentar o neoliberalismo não apenas como um conjunto de práticas de economia política que contribuem para a acumulação de capital (Harvey 2007, 159), mas igualmente como um modo distinto de razão e de produção de subjetividades e uma nova teoria do capital humano (Foucault 2004, 219).
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até ao início da década de 1970, a maioria dos países ocidentais adotou um conjunto considerável de políticas keynesianas que garantiram um ritmo constante de crescimento económico e melhoraram consideravelmente as condições de vida da população. Keynes, um crítico da economia clássica, criou uma teoria de intervenção governamental na economia que poderia evitar uma crise como a Grande Depressão e garantir padrões de vida crescentes para a classe trabalhadora. No entanto, os vermes do neoliberalismo viviam dentro da barriga do keynesianismo (Brown 2015, 89). Em 1947, a Sociedade Mont Pelérin – um grupo de economistas e intelectuais do qual Friedrich Hayek fazia parte – reuniu-se para redigir uma declaração que afirmava que o Ocidente estava a passar por uma crise moral e económica que precisava ser resolvida por meio de uma redefinição radical dos papéis do Estado (Rodrigues 2022, 27). Durante a década de 1950, a Escola de Economia de Chicago, com membros como Milton Friedman e George Stigler, destacou-se como uma das mais importantes incubadoras de ideias neoliberais. Os chamados Chicago Boys viriam até a ser entusiásticos apoiantes e conselheiros da ditadura de Pinochet no Chile (Rodrigues 2022, 42).
A década de 1970 foi conturbada para a economia mundial. O keynesianismo aparentemente fracassara: parecia que nem mesmo essa versão controlada do capitalismo era capaz de proporcionar bem-estar a todos durante um período indefinido (Graeber 2011, 375). Essa tempestade perfeita, na qual o neoliberalismo acabou por prosperar, pode ser atribuída a muitos fatores. No entanto, tentarei traçar uma breve cronologia. Desde o final da década de 1960, com a anexação israelita de Gaza e da Península do Sinai, a região estava em convulsão. Em 1973, uma coligação de países árabes vizinhos lançou um ataque surpresa contra Israel. Quando os Estados Unidos intervieram para apoiar Israel, os países árabes usaram o petróleo como arma contra o Ocidente e fizeram com que o seu preço subisse 70% (Hickel 2017, 124-125). Apesar disso, os EUA não recuaram no seu apoio a Israel e, em resposta, os países árabes impuseram um embargo petrolífero aos EUA e à Europa Ocidental. Isto teve consequências económicas de grande dimensão e desencadeou a «crise de alta inflação e baixo crescimento» que marcou a década (Hickel 2017, 126). Muitos chamaram-lhe uma crise de «estagflação». Na verdade, o capitalismo não pode crescer indefinidamente e esbarra rotineiramente nas suas próprias limitações para a criação de novos lucros: uma crise de sobreacumulação (Hickel 2017, 140). Com a inflação e o crescimento lento a pairar no horizonte, os governos capitalistas tendem a ter duas opções: uma abordagem do tipo New Deal (na qual o capital pode ser investido em projetos de longo prazo e na melhoria do poder de compra dos trabalhadores) ou o que viria a ser a abordagem neoliberal (criar novos mercados através da privatização de setores da economia, investir em dívida e baratear a mão de obra através do desemprego e da limitação do poder de negociação dos sindicatos) (Hickel 2017, 140-141).
Nesse contexto, o neoliberalismo ascendeu ao poder. Três datas importantes podem ser apontadas como particularmente relevantes: 1979, com a eleição de Margaret Thatcher; 1980, com a eleição de Ronald Reagan; e 1989, com o Consenso de Washington finalmente adotando integralmente a agenda neoliberal. A partir da década de 1980, organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial foram eficientemente purgadas dos keynesianos e tornaram-se ferramentas para hegemonizar a agenda neoliberal (Hickel 2017, 131). Durante a década de 1990, após o colapso da União Soviética e com o neoliberalismo a avançar na maior parte do mundo, a social-democracia e a chamada terceira via pareciam ter sido diluídas e alguns afirmaram que a História tinha acabado e que o capitalismo tinha assegurado uma vitória retumbante sobre qualquer alternativa (Rodrigues 2022, 58).
Deste modo, o neoliberalismo tornou-se, sem dúvida, na ideologia mais influente dos últimos cinquenta anos (Rodrigues 2022, 13). O que é, então, o neoliberalismo? Por maiores que sejam as diferenças entre continentes, países e períodos, é possível apontar algumas práticas económicas transversais. De acordo com as contribuições de Wendy Brown (2015) e David Harvey (2007), a economia neoliberal consiste, em primeiro lugar, na afirmação da primazia do «mercado livre». Isto implica a privatização dos bens públicos, a mercantilização de todas as necessidades humanas, a financeirização absoluta da economia, o corte radical do Estado social, a reversão da redistribuição do dinheiro, direcionando-o de baixo para cima, e a desregulamentação da economia. Como afirma Harvey, o neoliberalismo implica um projeto de restauração do poder de classe e a proliferação de práticas de acumulação – «acumulação por desapropriação» (Harvey 2007, 159). No entanto, o neoliberalismo não parece ser uma mera configuração do capitalismo com ênfase no laissez-faire para os mercados, mas sim uma forma de organização do corpo social de acordo com as regras da economia de mercado (Foucault 2004, 242). Tendo isso em consideração, pode-se argumentar que o neoliberalismo é um modo distinto de razão que produz novas ideias do que é bom, adequado e desejável (Whyte e Wiegratz 2016, 452).
Michel Foucault, nas suas palestras no Collège de France sob o título Birth of Biopolitics, teoriza o neoliberalismo como um retorno ao homo economicus, o sujeito neoliberal como um empreendedor de si mesmo, do seu próprio capital, produtor e fonte de rendimentos (Foucault 2004, 225-226). A forma do mercado e da empresa, na racionalidade neoliberal, é estendida a todos os domínios das relações sociais e políticas. Como afirma Timothy Mitchell: a «economia» torna-se uma forma de se referir a toda a vida coletiva, que é, portanto, reduzida a ela (Mitchell 2014, 483). À medida que o neoliberalismo procura refazer o Estado nos termos acima explicados, procura também refazer a alma, criando indivíduos atomizados cujo único objetivo é maximizar o seu valor de capital e atrair investidores (Brown 2015, 24). As pessoas tornam-se vencedoras ou perdedoras dependendo das suas capacidades financeiras e o seu sucesso passa a depender apenas delas próprias e da sua vontade de melhorar. Todos aqueles que não maximizam o seu capital humano são perdedores, preguiçosos e indignos de receber ajuda social. O objetivo exclusivo do Estado passa a ser o crescimento económico e a maximização do potencial da economia, sem qualquer consideração pelo bem-estar geral da população (Brown 2015, 213).
Existe um princípio subjacente de que tudo pode ser tratado como uma mercadoria, incluindo nós próprios (Harvey 2007, 165). Neste sentido, os interesses corporativos – numa sociedade transformada num projeto de gestão – são reembalados como bem-estar público (Whyte e Wiegratz 2016, 452). Simultaneamente, este projeto de remodelação das relações sociais e dos objetivos do Estado é acompanhado por uma insistência no ideal da liberdade como o limiar supremo da ação humana (Harvey 2007, 6).
Mesmo as relações económicas que parecem profundamente imorais tendem a envolver discursos moralizantes. A única forma de justificar relações que implicam violência, desapropriação e desigualdade é disfarçá-las de moralidade (Graeber 2011, 5). Garantir o consentimento que permite que uma ideologia se torne hegemónica requer a construção de um código moral que se torne senso comum (Tombs 2016, 83). Antonio Gramsci, um teórico seminal do poder, explicou que qualquer força política que luta pela hegemonia deve esforçar-se por criar um novo senso comum, como uma ideologia difusa que contém em si mesma uma concepção moral do mundo (Liguori e Voza 2017, 722-723). O neoliberalismo conseguiu, sem dúvida, transformar-se em senso comum na maior parte do mundo ocidental e naturalizar as suas medidas draconianas como um sacrifício necessário numa sociedade de maximização dos lucros. Quando surgiu, o neoliberalismo fez grandes promessas de que a riqueza criada pela regulamentação e pela financeirização acabaria por «trickle down» e beneficiar toda a população. Isso era uma mentira descarada: David Harvey mostra-nos extensivamente como o projeto do neoliberalismo nunca teve como objetivo gerar riqueza, mas sim acumular a riqueza que anteriormente era parcialmente redistribuída pelo Estado social de volta às mãos de uma elite económica (Harvey 2007). Hoje, com essa mentira desaparecida do discurso político, ficamos com a exigência de nos sacrificarmos, de eliminarmos qualquer vestígio de uma vida boa e agradável e de nos prepararmos para pagar os custos de uma sucessão de crises porque não nos comportámos suficientemente bem.
Deste modo, focar-me-ei em três aspetos que me parecem particularmente relevantes no contexto desta economia imoral e solitária: a dívida, a criminalização da pobreza e a atomização como política.
David Graeber escreveu o que é provavelmente o trabalho mais influente sobre dívida – Debt, the first 5000 years (2011). O antropólogo argumenta que, durante milhares de anos, as relações entre ricos e pobres assumiram a forma de crédito, de relação entre mutuários e credores (Graeber 2011, 8). Graeber explica ainda que o dinheiro, com a sua capacidade de se tornar uma abstração aritmética de todas as outras coisas, impôs uma quantificação violenta em todas as esferas da nossa vida social (Graeber 2011, 14). Ao longo de quinhentas páginas, ele explica como a linguagem do mercado passou a permear todos os aspetos da vida humana e a substituir os sentidos de moralidade, dívida e honra por um de dívida quantificável. A ideia de dívida é a consequência de um mundo que se tornou nada mais do que uma série de cálculos, no qual os imperativos financeiros estão tão naturalizados que tudo agora é dinheiro potencial. Para o autor, a violência máxima desse sistema económico de dívida é como ele falha em perceber que os seres humanos fazem parte de densas redes de relações com os outros, bem como com o seu entorno, e que ninguém ou nada pode ser verdadeiramente equivalente a qualquer outra coisa ou pessoa. Como Marx explicou, a própria essência do dinheiro – e do capitalismo – assenta na ideia de que uma quantidade de um produto é equivalente a uma determinada quantidade de outro. Ainda assim, esses dois valores devem ser redutíveis a um terceiro, a um valor de troca, que se materializa em dinheiro e que, por sua vez, pode ser trocado novamente por outra mercadoria (Marx 2013, 142). Isso significa que existe uma abstração fundamental no capitalismo que iguala diferentes mercadorias a um determinado valor numa determinada moeda. Graeber localiza a violência do sistema económico nessa mesma abstração, o motor que consome o mundo inteiro em quantidades quantificáveis de dinheiro. É nesse nexo de pensamento que a dívida se localiza: como o valor ao qual todas as relações humanas e morais podem ser reduzidas. Nesse sentido, pode-se argumentar que a dívida se tornou um arquétipo das relações sociais nas sociedades capitalistas (Lazzarato 2011, 33). O neoliberalismo é uma economia baseada na dívida. De facto, a luta de classes, nas últimas décadas, tem-se desenrolado, em larga medida, em torno das questões da dívida (Lazzarato 2011, 24). Empréstimos com altas taxas de juros têm sido o motor do neoliberalismo e garantido a dominação de classe.
O neoliberalismo, que engloba a retórica capitalista que promove a ideia de que todos são acionistas e empreendedores da sua própria vida, colocou as pessoas na condição existencial de serem as únicas responsáveis e culpadas pelo rumo que suas vidas tomam (Lazzarato 2011, 9). De repente, as crises financeiras não são consequência das políticas desastrosas e irresponsáveis dos bancos e credores, mas de cada pessoa que contraiu crédito. A vida, as poupanças, a habitação e os hábitos de trabalho das pessoas tornam-se objetos de análise moral na esfera pública para encontrar quem culpar pela crise (Tombs 2016, 89). Dedos são apontados entre vizinhos e iguais, a vergonha de viver livremente apodera-se e o escárnio pelas escolhas dos outros difunde-se. Assim se fica: sozinha e endividada.
Gostaria, então, de aprofundar a discussão sobre a ideia do Estado «fraco» promovida pelo pensamento neoliberal, recorrendo à obra do sociólogo francês Loïc Wacquant. No seu livro Punishing the Poor – The Neoliberal Government of Social Insecurity (2009), Wacquant traça uma ligação direta entre o triunfo do neoliberalismo e o reforço do Estado punitivista e persecutório que procura combater o crime ou a «delinquência» sem consideração pelas suas motivações sociais. O sociólogo explica-nos que o aumento da precariedade das vidas e a perda de rendimentos e segurança do Estado Social causados por estas políticas neoliberais surgem acopladas com a ativa punição daqueles que, empobrecidos e desesperados, procuram soluções ilegais para a desproteção sistémica. A pobreza torna-se, então, um crime. Ocupações de casas vazias, habitações autoconstruídas, pessoas em situação de sem-abrigo, aumento da toxicodependência: tudo isto conceptualizado como crime e não como sintoma de um sistema em falência. Assim, passa a ser exclusiva responsabilidade do indivíduo – por isso passível de ser julgado e preso – o fracasso do sistema de proteção social de todas as pessoas. O Estado penal e os complexos prisionais contribuem, então, para empurrar para a esfera da prisão e da privação da liberdade muitos que não têm outras opções de sobrevivência. Wacquant acrescenta ainda vários tópicos que nos soam tão familiares. O fabrico, através de partidos políticos e de meios de comunicação social, de um clima de insegurança – frequentemente associado à figura de um «delinquente de rua com pele escura» (Wacquant 2009, 3) – e a criação de um consenso sobre a necessidade de reforço do policiamento e do aumento das penas mesmo que para crimes não violentos ou contra a propriedade. Tudo isto, política concertada que vira pobres contra pobres. O bom pobre trabalhador contra o imaginado delinquente que se recusa a trabalhar, vivendo – teoricamente – à custa dos outros. A multidão descose-se em desconfiança, paranóia criminal e desejo de diferenciação daqueles que estão ligeiramente abaixo de nós. O Estado neoliberal não é fraco – ou «mínimo» – pelo contrário, para quem menos tem, é forte na sua repressão, empobrecimento, submissão e encarceramento.
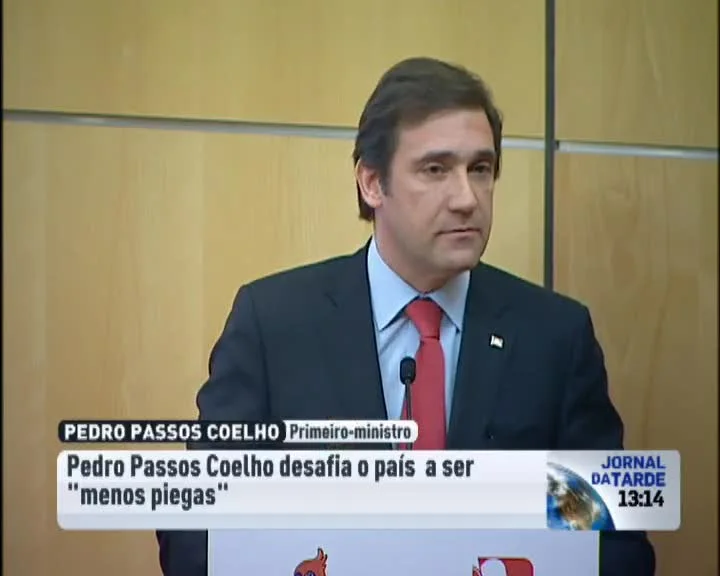
Ao longo destes parágrafos tentei espelhar uma ideia que me parece fundamental: a solidão é uma política concertada central para o projeto neoliberal. Mecanismos variados – operantes ao nível do consenso e da coerção – promovem uma política de atomização e indvidualização forçada, empurra sociedades para experiências de solidão e desenraizamento comunitário, semeia o ódio entre as exploradas, destrói os laços sociais, sindicais e culturais existentes e cria seres que orbitam entre trabalho e casa pairando isolados num mundo cada vez mais hostil. O ódio banaliza-se e semeia-se como política premeditada de divisão social. Não é por acaso que, de forma astuta, Mark Fisher liga tão diretamente os crescentes índices de depressão à fase brutal do capitalismo em que vivemos (Fisher 2009). Exploração, dívida, culpa, castigo, desconfiança: é esta a política neoliberal. Os valores comunitários eclipsam-se perante o fetiche do indivíduo.
Ao escrever esta longa, lembrei-me de algumas passagens especialmente marcantes do livro Free de Lea Ypi (2021). A autora refere que, com o colapso do socialismo na Albânia e o subsequente esquema de pirâmide em que o país se viu mergulhado, os vizinhos deixaram de se reunir nas casas uns dos outros, a rede comunitária esbateu-se, a entre-ajuda cessou, chegaram os empresários e empreendedores, o culto do dinheiro fácil e do indivíduo. As pessoas abandonaram-se. Achei essa ideia brutal e violenta. O colapso do socialismo como o colapso de uma estrutura da própria estrutura e noção de comunidade e de bem-comum. A viragem brusca do nós para o eu.
Naturalmente, não quero com isto apelar à nostalgia vazia de sociedades que continham em si uma miríade de contradições e violências que não posso subscrever. Com a metáfora deste artigo não pretendo também evocar saudosamente uma altura em que o capitalismo teria sido mais benigno ou justo. Não acredito em nenhuma medida para domar o capitalismo, apenas na sua total aniquilação. Considero igualmente que, todos os direitos alcançados, foram arrancados deste sistema através da força coletiva e não graciosamente outorgados pelos que lucram com a exploração do humano pelo humano.
Assim, termino com alguns conceitos que me parecem cada vez mais seminais para o futuro que queremos apresentar como alternativa à distopia capitalista: coletivo, pertença, empatia, solidariedade. Não me refiro, com isto, a certas ideias ocas e fetichizadas de um suposto afeto militante.
Face a uma cultura neoliberal que se entrelaça – e talvez seja concomitante deste – com o fascismo em ascensão nas suas novas formas, cabe-nos a tarefa de politizar e de ressignificar as ideias de organização comunitária, de perceção do eu como parte de um todo, de defesa de uma empatia socialista e radical face ao desmoronar da hipocrisia humanitária ocidental e, sobretudo, de voltar a moralizar as relações interpessoais. Somos uma multidão e resta que nos voltemos a percecionar como tal para que os lá de cima nos voltem a temer como tal.
Brown, Wendy. 2015. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books.
Carvalho, Tiago. 2022. Contesting Austerity - Social Movements and the Left in Portugal and Spain (2008-2015). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Cordeiro Santos, Ana. 2013. "Temos Vivido Acima Das Nossas Possibilidades?". In Não Acredite Em Tudo O Que Pensa. Mitos Do Senso Comum Na Era Da Austeridade, 17-29.
Cordeiro Santos, Ana, and José Reis. 2018. «Portugal: Uma Semiperiferia Reconfigurada.» E-Cadernos CES 29. https://journals.openedition.org/eces/3163.
Crehan, Kate. 2002. Gramsci, Culture and Anthropology. Londres: Pluto Press.
Foucault, Michel. 2008. The Birth of Biopolitics LECTURES AT THE COLLÈGE DE FRANCE, 1978–79. New York: Palgrave Macmillan.
Graeber, David. 2011. Debt: The First 5,000 Years. New York: MELVILLE HOUSE.
Harvey, David. 2007. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.
Hickel, Jason. 2017. The Divide - A Brief Guide to Global Inequality and Its Solutions. London: William Heinemann.
Lazzarato, Maurizio. 2011. The Making of the Indebted Man - An Essay on the Neoliberal Condition. Amsterdam: SEMIOTEXT(E) INTERVENTION SERIES.
Liguori, Guido, and Pasquale Voza. 2017. Dicionário Gramsciano. São Paulo: Boitempo.
Marx, Karl. 2013. O Capital - Livro I. São Paulo: Boitempo.
Mitchell, Timothy. 2014. «Economentality: How the Future Entered Government.» Critical Inquiry 40.
Radhakrishnan, Smitha. 2022. Making Women Pay - Microfinance in Urban India. Duke University Press.
Rodrigues, João. 2022. O Neoliberalismo Não é Um Slogan. Lisboa: Tinta da China.
Tombs, Steve. 2016. «After the crisis: morality plays and the renewal of business as usual». Essay. In Neoliberalism and the Moral Economy of Fraud, 101–126. New York: Routledge.
Whyte, David, and Jörg Wiegratz. 2016. «The Moral Economy of Neoliberal Fraud.» Essay. In Neoliberalism and the Moral Economy of Fraud, 587–682. New York: Routledge.
Ypi, Lea. 2021. Free - Coming of Age at the End of History. Dublin: Penguin.




