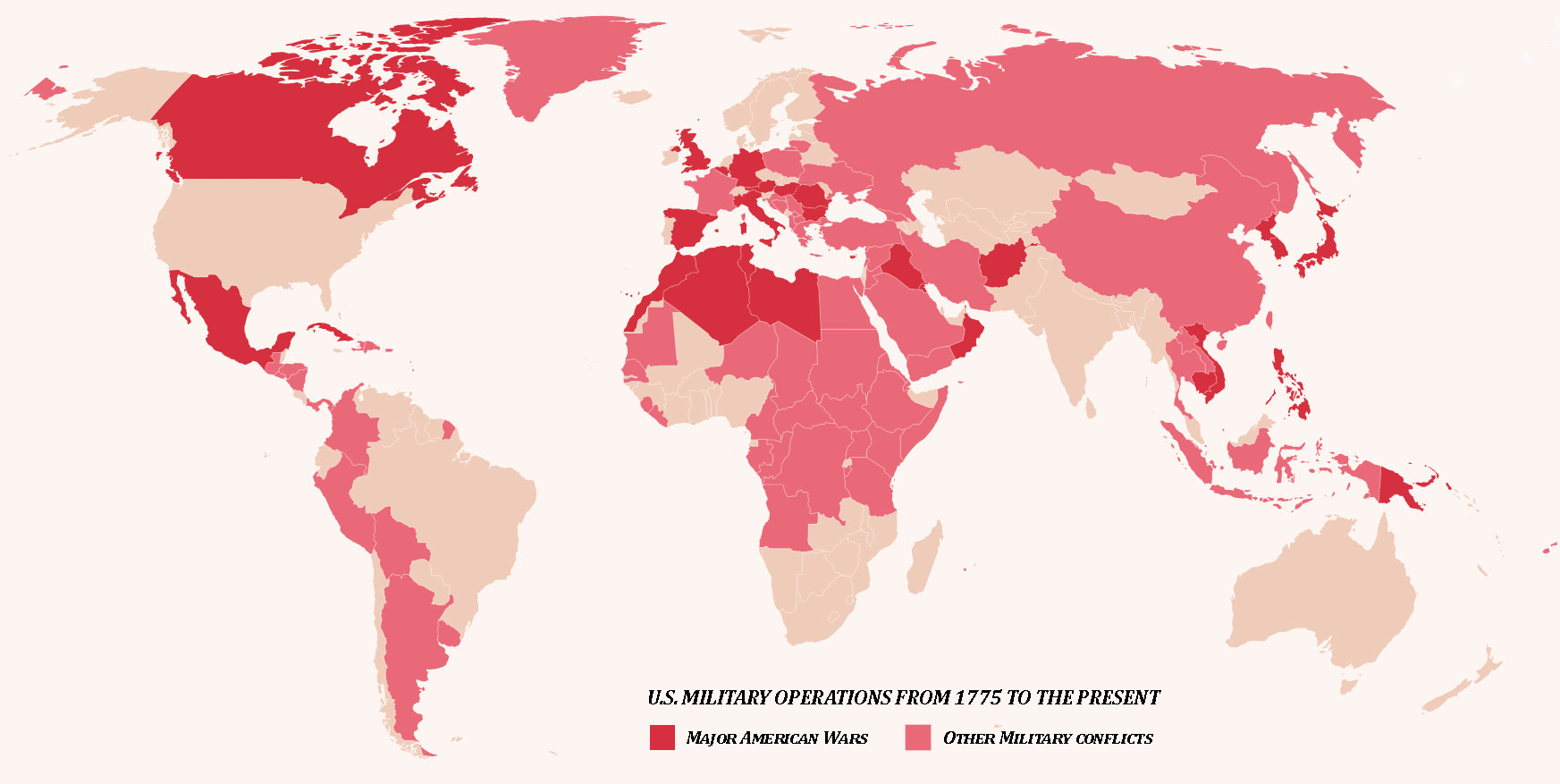A arte é a única espada legitimada de contorções de sentidos.
É a única ferocidade que pode esventrar o real de agonias educativas.
Não que a sua chegada, que é o seu fim, tenha que deixar um legado qual o seja.
O próprio gesto de ferir o mundo é o seu cumprir-se. Em maior ou menor comprimento de ardor.
Assim, no remoer da lâmina enfiada na realeza da realidade, o artista deixa a sangrar uma composição atordoante que geme impressionante, uma morte nascendo sublime.
O artista é uma grávida que pode parir sempre que respira.
Que floresce filhos muito irrequietos e tirânicos que oferece à nossas frentes. As nossas frontes suam com a irreverência desses entes agitados que só precisam dos nossos des-entendimentos para crescer nos nossos ventres, enjoos existenciais que são essenciais.
É pois, no escuro que abre o objeto artístico que podemos respirar o nosso fundo com outra largueza. Porque nesse embate com a obra de arte não há contornos éticos a esventrar as nossas falas de fomes. Há outros aaaaaas mais profundos que a explicação da organização do mundo.
É nessa vastidão que alaga os nossos ajustes que recuperamos o fôlego dos nossos afogueamentos da infância.
A arte lava-nos a escuridão.
A arte sim dá banho aos nossos sins.
Apura-os num campo aberto agora desperto que não se cala nesse seu noturno deserto.
Ouvimos nos nossos sentires, uns rugires que aceleram as nossas próprias revoluções de reverteres.
Porque há uma devolvência à nossa demência, o embate da arte entrega-nos às nossas fomes fundas e fecundas.
Na abertura que urra, aquecemos os nossos frios e apontamo-los ao adiante.
É na matéria melosa ainda que melodiosa que nos masca as máscaras que maturamos os nossos maravilhares.
A arte tem disto, uma abençoação dos sons de silêncio que nos dão ritmo a oscilar o ser entre o saber e o insandecer.
A arte inclina mais para um lá que nos lembra de onde viemos.
Talvez por isto haja aí quem queira modelar todo o ar irado do raiar arte.
E impor aos demais os seus próprios ais.
Mas não há cá iguais vendavais.
Não há iguais pias batismais.
A cada um as suas suantes e surpreendentes dores sexuais.
Há sim, uma permissão de cada qual para o estonteio que aquele que largou o freio, ofereceu aos demais.
Já que o artista não deixa mais que uma só pista, que é o que salta à vista, para que o que ali embateu possa reclamar-se uma específica sensualidade conquista. Já que cada objeto tem um teto de tensão de uma tesão teatral, mas tesão.
Não é o real que corrói a arte, mas a arte que corrompe o real. E ainda bem.
Se não houvesse cântico de rompimento a roer a in-sanidade do artista, então viveríamos a duas dimensões. É a arte que perfura o que nos dura. Que nos doira os escuros que se põem a rumorejar todo este insuportável ar de se respirar.
É a arte que nos prepara para o nosso passado. É a arte que nos dá uma pancadaria que nos acalma a folia.
Se não houvesse este perímetro sem fronteiras então aí sim perdíamos todos as estribeiras.
É a arte o garante do nosso para sempre.
Não é felizes, é sem termos de ser tão atrizes.
Pelo menos, sabemos que podemos dançar com os nossos demos.
E que enquanto existir este imediato ressentir poderemos dar à nossa noite a hipótese de subir.
Que enquanto a arte não respirar da realidade que nos torce, podemos ainda seguir com o nosso querer ir.
Que enquanto a arte não for conspurcada de leis da estrada, haverá chance de se ter eivada com a sua fenomenal fé atormentada.
Carolina Amaral é atriz e criadora. Estudou na ESMAE, no Porto e no CNSAD, em Paris. Tem trabalhado com diversos criadores em teatro, cinema e televisão.
O seu trabalho autoral, Teatro do Mal, põe em diálogo o sagrado e o profano, a liturgia e a desobediência, o verbo e a carne.

.jpg)