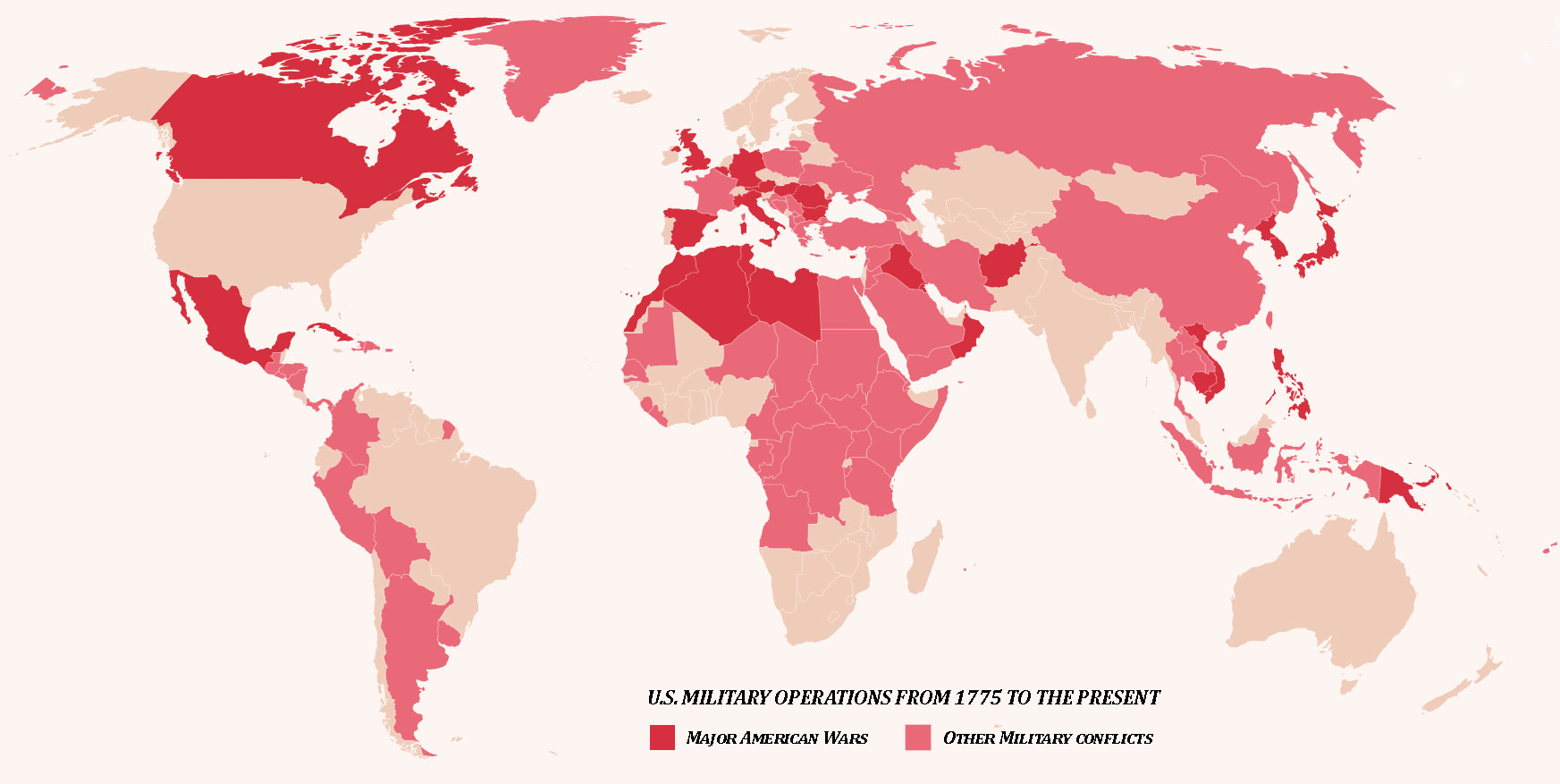Cheguei ao cemitério de Montparnasse num dia de chuva – 7 de julho de 2025 –, poucas horas depois de ter aterrado na capital francesa. Tal como o fizera em anteriores visitas, decidi começar a minha estada em Paris, que tinha fins essencialmente académicos, com um passeio pelos «trilhos» de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Procuro os seus vestígios em cafés, praças, átrios da universidade, ruas e bairros. Apesar das centenas de turistas que se amontoam (eu incluída nesse monte, naturalmente), julgo que consigo sempre encontrar mais um bocadinho deles em cada um desses sítios que reconheço dos seus romances, artigos e memórias.
Desta vez, visitei sozinha o cemitério. Decidi parar um pouco e contemplar a sepultura que partilham. Não ouso dizer que estão juntos porque a própria Simone de Beauvoir escrevia aquando da morte do seu companheiro: «A morte separa-nos. A minha morte não voltará a unir-nos. É assim: já é belo que as nossas vidas tenham podido conciliar-se tanto tempo» (Beauvoir 2024, 202). Os beijos na lápide parecem sempre vindos de novos lábios, as pedrinhas amontoam-se sobre a campa, os desenhos e as oferendas deixadas de uma imaginação que se vai renovando, as cartas que lá são deixadas (agora molhadas pela chuva) revelam desabafos e agradecimentos em muitas línguas e, sobretudo, emociono-me ao notar a frescura das flores, como que deixadas por familiares pesarosos há pouco mais de um dia. É estranho, não é? Não são os seus familiares que cuidam da sua sepultura. São centenas de pessoas, parisienses e turistas, admiradores emocionados de todas as origens que escolhem ativamente deixar vestígios materiais da sua lembrança. A materialidade da memória – e a óbvia intencionalidade por detrás dela – fazem-me deixar o cemitério de lágrimas nos olhos (bem que, devo confessar, sou uma rapariga de lágrimas fáceis).
O meu percurso continua e visito o Café de Flore e o Deux Magots (dois locais frequentados pelos dois filósofos, acompanhados de outros nomes ilustres do seu tempo como Maurice Merleau-Ponty ou Albert Camus). Hoje são verdadeiros hubs turísticos onde é difícil encontrar um produto no menu que custe menos de quinze euros. Sento-me e peço um café com leite. Imagino-os aqui: no debate de ideias, no convívio, provavelmente sob uma densa nuvem de tabaco. No entanto, as conversas nas mesas à minha volta de outros turistas que pedem contas exorbitantes e fazem ver os sacos das marcas mais caras da cidade, acabam por dificultar o cenário que tentava criar. Saio do café. Decido visitar, mas ficando-me pela porta, outros sítios por onde sei que andavam: La Coupole ou Brasserie Lipp.

A ideia para este texto veio de uma viagem recente a Paris, como o leitor já terá percebido. Preparava-me para lá ir com o intuito de completar um curso de verão na Sorbonne, outro sítio por onde passaram estes heróis (já darei as devidas explicações quanto a esta nomenclatura). O que é afinal este texto? Começo por dizer: não tenciono fazer uma descrição exaustiva da vida ou das filosofias de Sartre e de Beauvoir – para isso outras pesquisas e textos serviriam melhor –, mas contar a minha história com estas pessoas, que com o seu pensamento e ação, moldaram o meu eu de forma definitiva e incontornável. Tomem este texto como uma anatomia seletiva e sentimental daqueles a quem chamo os meus heróis. E, ao mesmo tempo, como uma apologia aos heróis em si – e heroínas, naturalmente – e à capacidade de amar pessoas com quem nunca poderemos trocar uma única palavra. Como escreve Simone na dedicatória de A Cerimónia do Adeus: «Àqueles que amaram Sartre, o amam, o venham a amar» (Beauvoir 2024, 1). O meu texto é de quem o veio a amar, muitos anos depois destas palavras. De quem os veio a amar. E serve para que talvez quem por aqui passe os olhos possa vir a amá-los também.

Quem são eles, afinal de contas? Poder-se-ia dizer de forma relativamente direta e asséctica que foram dois filósofos e escritores franceses, particularmente destacados do período do pós-Segunda Guerra Mundial, que propuseram – em conjunto – novos caminhos da filosofia existencialista e do pensamento feminista. Foram companheiros românticos toda a vida, tendo, no entanto, uma relação aberta dizendo que o seu amor seria um «amor essencial» e que os casos que tiveram durante a vida seriam meros amores contingentes, que não alteravam a realidade fundamental da camaradagem que unia as suas vidas. Dir-se-ia igualmente que foram ativistas políticos incansáveis até ao último dia das suas vidas: saindo à rua em protestos, mostrando solidariedade com as causas que abalavam o mundo, partindo para conhecer projetos revolucionários por todo o mundo e sempre abertos à reinvenção intelectual e política. Se quisesse, podia enumerar prémios ganhos e honras concedidas. Não o farei. Contar-vos-ei outra história.
Estava no 11.º ano, tinha dezasseis anos. Estava numa aula de Filosofia, coincidentemente a minha disciplina preferida no liceu. O professor propôs-nos que escolhêssemos um filósofo de uma lista que escreveu no quadro para fazermos um trabalho sobre ele. A lista era longa e eu não conhecia todos os nomes. Acabei por escolher fazer sobre Marx, mas apontei os que não conhecia no caderno, para pesquisar mais tarde. Albert Camus e Jean-Paul Sartre foram dois desses nomes. Alguns dias depois, num fim-de-semana por casa, reparei que existia na estante dos meus pais O Estrangeiro de Camus, curiosamente prefaciado por Sartre. Peguei nele e li-o. Não consegui parar de ler. Poder-se-á dizer que fiquei fixada no que tinha lido: frases curtas, um sentimento de abismo, de absurdo, algo que me tocou num sítio ao qual não sabia dar nome.
Pus-me a pesquisar e procurei descobrir mais e mais sobre o que era isto do existencialismo, quem tinham sido estas pessoas, que vidas levaram elas, que ideias tinham. De seguida, decidi ler A Náusea, de Sartre, que também lá andava por casa. Senti-me profundamente perturbada. Percebia de forma dolorosa os sentimentos que assaltaram Roquentin, a constatação agoniante da liberdade e das absurdas coincidências que me teriam trazido (a mim e a tudo o resto) até aqui. Náusea, angústia, liberdade radical, existência antes da essência: conceitos que nos põem perante a dura realidade de que estar no mundo é fazer uma escolha sobre ele, mas, surpreendentemente, que ajudaram a Leonor-adolescente a nomear as tristezas e ansiedades que sentia tão agudamente. Seguiram-se vários outros romances, peças de teatro, memórias e textos filosóficos de Sartre e de Simone. Imprimi as suas fotografias para pendurar no quarto, procurei usar roupa e penteados que se assemelhassem aos de Simone, decidi aprender francês. Sentia que finalmente alguém tinha falado para algumas das minhas maiores preocupações, para aquela dor que sentimos num sítio fundo dentro de nós, que alguém me tinha dito que o melhor a fazer era aceitar essa angústia e transformá-la em ação. Poderei dizer que me deram força para desenvolver um pensamento próprio – contrariando a «má-fé» sobre a qual ia lendo –, no meio de uma adolescência na qual me sentia realmente parte de pouca coisa. Mas, atenção, nada disto não é uma lenga-lenga de auto-ajuda. Pelo contrário, era sobre emancipação e autodeterminação; sobre a capacidade das canetas de dois autores emanciparem uma jovem de dezasseis anos mais de trinta anos depois da sua morte.
Talvez possa dizer-vos melhor o que mais me fez apaixonar por eles através de duas lentes: uma mais teórica e outra mais ligada à ação. Naturalmente, estes relatos são incompletos, funcionando mais como um inventário de questões que nos foram deixadas. Comecemos pela teoria: marxismo existencial e feminismo.
O marxismo existencial foi principalmente um fenómeno francês do período após a Segunda Guerra Mundial (Smyth e Westerman 2022, 12). Jean-Paul Sartre é, talvez, a figura mais relevante deste movimento intelectual. A obra do filósofo é extensa; portanto, desejo concentrar-me particularmente na sua obra posterior, Critique de La Raison Dialectique (1960), na qual ele dá maior ênfase às condições estruturais e exteriores que limitam a liberdade de uma pessoa e faz a ponte entre o marxismo e os seus preceitos existenciais e fenomenológicos. Nesta obra fundamental, ele afirma claramente: «Considero o marxismo como a filosofia intransponível para o nosso tempo e acredito que a ideologia da existência, juntamente com o seu método “abrangente”, é um enclave dentro do próprio marxismo» (Sartre 2004, 837).
Uma das ideias mais fundamentais de Sartre é a da «liberdade radical», que nos define como «árbitros de todas as nossas escolhas» (Meleod 1968, 26). Ninguém pode escapar a essa liberdade existencial, que pode causar profundos sentimentos de angústia, pois carrega consigo o fardo da responsabilidade. No entanto, isso não significa que todos sejam completamente livres. Não escolhemos as nossas próprias condições históricas, sociais ou políticas de existência; a liberdade reside no que escolhemos fazer de nós mesmos nesse mundo que não controlamos (Busch 1972, 117). Segundo Sartre, somos existencialmente livres mesmo que estejamos presos sob tortura, pois ele vê essa liberdade como a base da existência humana (Meleod 1968, 31).
Nós criamos a nós mesmos num processo dialético de contribuição para a humanidade. Assim, a subjetividade é sempre intersubjetiva, pois Sartre acredita que uma pessoa alcança a autenticidade dentro de uma comunidade (Bush 1972, 120). A angústia é o preço que uma pessoa paga por estar conectada ao mundo. Se reconhecermos e aceitarmos a responsabilidade de sermos pessoas completas, seremos assombrados pela ansiedade, angústia e desespero. Alguns tentarão sempre fugir (Harms 2023). É nesse sentido que Sartre propõe o termo mauvaise foi para definir aqueles que negam as suas responsabilidades e fogem das decisões (Meleod 1968, 28). O filósofo exorta-nos a sermos mais livres, a vivermos de forma autêntica, lucidamente conscientes da nossa própria existência e capacidade de agir no mundo que nos rodeia. Portanto, «o humanismo radical repousa sobre o voluntarismo subjetivo de um imperativo moral exigente» (Smyth e Westerman 2022, 16). Sartre tem uma profunda preocupação moral com o nosso poder de escolher o que queremos fazer (Meleod 1968, 27). Aqui, chegamos a um dos axiomas mais paradigmáticos de Sartre: «a existência precede a essência» (Sartre 2007, 24), o que significa que «o único significado possível que uma vida tem é aquele que lhe é dado ao vivê-la» (Moran 2000, 362).
Para concluir, podemos dizer que Sartre nos oferece uma dialética sem determinismo (Meleod 1968, 21); ele procurou «reconquistar o homem dentro do marxismo» (Aronson 1995, 30). Nas suas próprias palavras: «pois se existe algo como uma razão dialética, ela é revelada e estabelecida na e através da práxis humana, aos homens numa determinada sociedade num momento específico do seu desenvolvimento» (Sartre 1960). Na mesma obra, o autor também afirma:
«POR QUE, ENTÃO, não somos simplesmente marxistas? É porque tomamos as afirmações de Engels (...) como princípios orientadores, como indicações de tarefas a serem realizadas, como problemas — não como verdades concretas. É porque suas afirmações nos parecem insuficientemente definidas e, como tal, passíveis de inúmeras interpretações; em uma palavra, é porque elas nos parecem ideias reguladoras. O marxista contemporâneo, ao contrário, considera-as claras, precisas e inequívocas; para ele, elas já constituem um conhecimento. Nós, por outro lado, pensamos que tudo ainda está por fazer; temos de encontrar o método e constituir a ciência.»
Fundamentalmente, não temos de escolher entre uma abordagem fenomenológica da experiência e explicações mais estruturadas do poder que, de alguma forma, limitam a liberdade individual e determinam os horizontes que a rodeiam (Ram e Houston 2015, 6). Uma fenomenologia do poder pode ser capaz de unir o objetivismo extremo e a subjetividade extrema (Dreher 2015, 103), levando assim a uma melhor compreensão de como o indivíduo é moldado e molda de volta as estruturas de poder. Combinar as duas perspetivas apresentadas — a marxista e a fenomenológica — é fundamental para afirmar que o poder afetivo do monumento e a experiência pré-discursiva que ele gera ajudam a fabricar o consentimento face a uma dada ideologia. Simultaneamente, é útil utilizar um método «regressivo-progressivo» sartriano (Gorz 1966), que procura traçar as condições sociais de cada indivíduo (regressivo) e, em seguida, observar como ele tenta criar significado e reagir às condições que lhes são impostas (progressivo).
Assim, sabendo que a liberdade é exercida com restrições materiais, podemos radicalizar a subjetividade da práxis e procurá-la nas experiências diárias. Poderíamos, portanto, argumentar que as estruturas de poder de uma sociedade são o produto de «processos de interação social nos quais os atores individuais estão envolvidos», mas, por sua vez, «a subjetividade desses indivíduos é determinada por essas estruturas de poder» (Dreher 2013, 105). Esta potencialidade de liberdade e criatividade do indivíduo inclui, portanto, a possibilidade de dissidência das estruturas de poder impostas (Dreher 2013, 118). Assumindo o marxismo existencial, podemos assim defender a restauração da subjetividade individual como fonte tanto de criatividade quanto de responsabilidade (Busch 1972, 116). Mesmo num monumento que reflete estruturas opressivas, as pessoas podem exercer a liberdade, perturbando ou transformando o seu significado.
Simone de Beauvoir aplicou preceitos da teoria existencialista ao feminismo. No entanto, ela não representou uma mera reprodução do pensamento sartriano aplicada ao feminismo. Longe disso, de Beauvoir foi uma construtora da teoria filosófica, inovou-a, deu-lhe camadas e tornou-se numas das filósofas mais brilhantes e reconhecidas de sempre. Na sua obra mais conhecida (publicada em 1949), O segundo sexo — que se tornaria uma obra fundamental da teoria feminista —, Simone afirma que não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres (Beauvoir 1976, 136). Em outras palavras, o sexo biológico com que nascemos não determina se somos sensíveis ou boas cozinheiras, se somos desenhadas para a maternidade, se gostamos de usar vestidos. Na verdade, não determina absolutamente nada. É na sociedade patriarcal que se cria a ideia do que é a «mulher», o outro do homem, a costela de Adão, a que é sempre relativa ao homem. A biologia, a reprodução e a sexualidade são condições reais, mas não determinam o papel social das mulheres. Segundo a filósofa, todos os seres humanos buscam a transcendência – liberdade, criatividade, decisão, escolha. As mulheres, não obstante, teriam sido confinadas à imanência – à domesticidade, à reprodução, à passividade, à sensibilidade, ao cuidado. A verdadeira emancipação requer acesso ao trabalho, à educação e à possibilidade de moldar o próprio futuro. Se muitas destas coisas nos soam como dados adquiridos (apesar das vozes que o põem em causa), a verdade é Simone de Beauvoir o foi capaz de dizer corajosamente ainda em 1949, quando o direito ao divórcio, a independência financeira, a proteção da violência de género e a liberdade sexual não existiam para as mulheres em França e na maior parte do mundo.
Se nos dedicarmos a ler as memórias que escreveu, reparamos na enorme admiração e devoção que consagrava ao seu companheiro. Talvez, por vezes, a própria se tivesse considerado o outro de Sartre, mesmo que inconscientemente. Não conseguirei nunca concebê-los senão como um. Formam um sistema composto por duas estrelas que estão ligadas gravitacionalmente e que orbitam uma em torno da outra. Muitas vezes, brilham de forma tão resplandescente que alguns olhos confundem e misturam a sua luz como se fosse uma só. Simone de Beauvoir era Castor – jogando com o trocadilho do seu apelido – que, na lenda antiga, era o personagem mortal deste par. Por outro lado, Jean-Paul Sartre era Pólux, que seria imortal. Assinaram centenas de cartas um para o outro usando estes nomes, expressando uma ligação tão profunda que transcendia as limitações do individualismo. Duas cabeças a pensar juntas, a viver juntas. Tal como na lenda, Pólux partilharia a imortalidade com Castor, ecoando o seu amor pelos tempos: « …et pourquoi craindre de mettre entre nous des distances qui ne pouvaient jamais nous séparer ? » (Beauvoir 1960, 12).
Finalmente, algumas notas sobre ação. Nenhum dos dois foi um «filósofo de poltrona» – expressão que designa aqueles que engajam em especulações políticas e sociais sem concretizar qualquer ação no terreno –, muito pelo contrário. Organizaram jornais e revistas políticas, bateram-se contra o colonialismo (particularmente no caso da Guerra da Argélia) e o fascismo, opuseram-se à Guerra no Vietname, participaram na luta por direitos reprodutivos para as mulheres, envolveram-se com ideias e movimentos marxistas e maoístas, viajaram para conhecer a Revolução Cubana e a Revolução Portuguesa. A velhice e a doença – até mesmo a quase-cegueira de Sartre nos últimos anos da sua vida – não aplacaram as suas lutas e não quebraram um compromisso político que vinha de uma convicção filosófica inalterável. Ao ler sobre os últimos anos das suas vidas, espantei-me e com as suas vorazes vontades de continuar a viver, a escrever, a militar. Como, até ao fim, se recusaram a transformar-se em filósofos do regime, em alinhar-se com a situação. Penso como, em 1964, Jean-Paul Sartre recusou o Prémio Nobel da Literatura precisamente por não querer tornar-se um autor «institucionalizado».
Para finalizar este texto, pus-me a pensar sobre o que é isto de ter heróis e heroínas. De admirar profundamente o outro, de reconhecê-lo de forma não dogmática ou idólatra como um exemplo a seguir, de querer manter viva – através do nosso corpo, escrita ou memória – a história de pessoas longínquas de nós. Cheguei a algumas ideias difusas. Talvez dizer «tenho um herói» possa ser uma forma de nos lembrarmos de que não estamos só, que nunca estivemos sós. Talvez signifique que somos capazes de superar o nosso ego e de sentir deslumbre pelas capacidades e criações dos outros. Abre-se uma porta para um sentido de comunidade de coletivo em que não queremos ser mais que o outro, mas que desejamos continuar o trabalho de quem veio antes de nós. Vivemos uma parte da nossa vida para garantir que outras vidas continuam vivas. É uma ideia relativamente comum a de que «estaremos vivos enquanto alguém ainda se continuar a lembrar de nós». Eu por cá vou fazendo o meu bocadinho para que Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre continuem a viver.

.jpg)